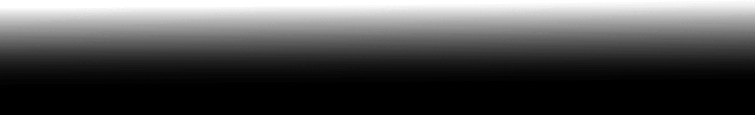A América Latina já era culturalmente diversificada antes de ser chamada por esse nome. Centenas de povos habitavam o continente. Havia intercâmbios e guerras entre alguns deles, evidenciando sua enorme diversidade: incas, calchaquíes, tzotziles, olmecas, maias, guaranis, tupis etc. Mas não existiam ainda as palavras índios e indígenas com as quais os unificaram os colonizadores espanhóis e portugueses.
A maior parte da literatura sobre diversidade na América Latina concentrou-se, até poucos anos, nas diferenças entre indígenas, afro-americanos e brancos (e crioulos ou criollos, como eram chamados os descendentes de europeus nas colônias espanholas da América). Ou seja, a maior atenção foi conferida à diversidade étnica. Os projetos de integração regional, desde o de Bolívar até o Mercosul, têm colocado também, como parte das análises e dos debates, as diferenças entre nações e as perguntas sobre o que poderia unificar o continente ou criar uma identidade latino-americana. Com quem se aliar nas negociações internacionais? Que imigrantes aceitar e como evitar a discriminação dos que chegam de países mais pobres, com outra língua ou menor nível educacional? Os temas clássicos da diversidade cultural – seletividade, discriminação e bilinguismo – impõem-se agora em escala transnacional.
Recentemente, passou-se a prestar atenção também nas formas não étnicas nem nacionais de diferenciação, como resultado das distintas participações nas formas modernas de desenvolvimento, de organização regional, distinção etária ou de gênero, e de acordo com as variadas modalidades de acesso aos bens e informações globalizados. Essa perspectiva dinâmica evita os riscos de tratar como únicas as identidades e ainda historiza as formas de diversidade tradicionais. Reduzir a questão da diversidade cultural à condição dos grupos que não fazem parte das instituições hegemônicas é descuidar das outras formas de diversidade, como se as diferenças e disputas entre os grupos dominantes não fossem problemáticas. A questão da multiculturalidade e do pluralismo linguístico não pode ser vista apenas como a necessidade de definir o que fazer com as línguas indígenas faladas por cerca de 40 milhões de latino-americanos. As perguntas sobre como tratar a diversidade e o plurilinguismo tampouco se esgotam, como em outra época, agregando ao bilinguismo castelhano-indígena o das elites que aprendem inglês ou outras línguas. Num continente intensamente interligado, em que todas as classes sociais viajam (como os empresários, estudantes, turistas, migrantes e exilados), os dilemas da diversidade e da interculturalidade abarcam quase toda a população. O crescimento dos investimentos estrangeiros na América Latina e o das remessas dos migrantes (de dinheiro e também de bens e informações) são duas evidências destacadas do incremento das interconexões entre as formas internas de organização social e as de outras sociedades e culturas.
Nessa perspectiva, a análise da diversidade – e das políticas destinadas a tratar dessa questão – não pode limitar-se a defender os direitos de falar a própria língua e ocupar um território específico. Precisamos pensar interculturalmente na pesquisa, nas políticas educacionais, legais e de convivência a fim de que a defesa do peculiar se articule com os direitos de acesso ao patrimônio nacional e às redes de intercâmbio material e simbólico que nos conectam com o mundo.
Índios
Essa foi uma categoria cômoda usada pelos colonizadores e depois pelos setores hegemônicos das nações modernas para designar os povos originários do que hoje é o continente latino-americano. Contudo, nenhum critério utilizado historicamente para definir esses povos de forma unificada é hoje satisfatório. Não basta a relação originária com o território, porque essa delimitação tende a tomar tal condição como fundamental e descuidar do seu desenvolvimento cultural e de suas mudanças de modos de produção, costumes e crenças; além disso, ainda que continue havendo áreas predominantemente indígenas nos países onde eles são mais numerosos (Bolívia, Peru, Guatemala e México), milhões de índios migraram para as cidades e também para fora de seus países, até mesmo para os Estados Unidos.

- Reconstrução de Tenochtitlan, a capital do Império Asteca e hoje centro da moderna Cidade do México, no Museu Nacional de Antropologia do México (Wikimedia Commons)
Na atualidade, as noções tanto de raça como de etnia são vistas como construções socioculturais e históricas. A condição de índio varia conforme as épocas e os atores que intervêm em sua caracterização ou discriminação. Quem insiste ainda em marcar as diferenças pela cor da pele ou outros traços biológicos tende a naturalizar os indígenas; em vez disso, a definição étnica destaca a língua, as práticas e crenças, assim como as referências históricas com que os próprios grupos marcam sua linhagem. Sem se trabalhar de forma combinada esses traços, é difícil estabelecer delimitações invariáveis entre os indígenas e os que não o são; mais ainda depois de longos processos de mestiçagem como os ocorridos durante a modernização das sociedades latino-americanas, especialmente com as migrações e a reinserção de um grande número de indígenas em âmbitos urbanos.
Como quantificar, nessas condições, o número de índios existente em cada nação? Devido a essa mobilidade das fronteiras étnicas, existem distintas estatísticas. Se nas análises teóricas e qualitativas se combinam os indicadores mencionados, é comum priorizar o componente linguístico ao estabelecer a quantidade de etnias e seu tamanho (no Chile, as pesquisas censitárias perguntam sobre a autoidentificação, mas na Bolívia, na Guatemala e em outros países se privilegia a identificação linguística). Vários organismos internacionais registram cerca de quatrocentos grupos indígenas diferentes, que somariam entre 35 e 40 milhões (BID, 1997, CEPAL-Celade, 1999). Héctor Díaz-Polanco (1995) faz oscilar esse cálculo para 40 e 50 milhões, priorizando a autoidentificação e a especificidade de suas relações econômicas, organização social e hábitos culturais.
Encabeçam as estatísticas o México, com 10,9 milhões (12,6% da população), o Peru, com 9 milhões (40,2%), a Guatemala, com 4,6 milhões, a Bolívia, onde o censo registrava 3.058.208 (59%) e as estimativas eram de 5,6 milhões (81,2%), e o Equador, com 3,8 milhões. Esses números correspondem a dados obtidos entre 1990 e 1994, e são resultados da confrontação de censos e estimativas que, como se observa sobretudo no caso boliviano, podem divergir notoriamente.
Não é fácil chegar a acordos de amplo consenso acerca do que consiste a diversidade dos grupos indígenas. O que justifica, depois da imposição colonial e estatal-nacional de um denominador comum, somar num só conjunto quatrocentos grupos com línguas diferentes? Na descrição etnográfica de uma reunião de índios de quinze países latino-americanos, celebrada no México entre 6 e 9 de dezembro de 2003, observamos que, ante a pergunta “quem somos?”, em que pese a vontade de convergência, prevaleceram as dificuldades para encontrar um termo unificador. Nem a cor da pele, nem a língua, nem o território, nem a religião avalizavam esse propósito. “Somos o trigo, o milho, o feixe de linho”, foi dito poeticamente. Ou se prepararam listas de traços distintivos como “a vida comunitária, o amor à terra” e “as celebrações ligadas aos calendários agrícolas”. Quando se tentou formular “uma matriz civilizatória” que abarcasse todo o continente, vários participantes argumentaram a necessidade de dar-lhe amplitude para que incluísse índios e mestiços. Alguns preferiram definir a condição comum com base na perspectiva gerada pela descolonização e nos processos atuais de luta social e cultural. Mas o que é mais decisivo: a desigualdade social ou as diferenças culturais? Definir-se pelas referências às quais se opõem ou por “âmbitos de comunhão”? Nações ou povos: delimitação jurídica ou movimentos étnico-sociais? A resposta não é a mesma – disseram – para a Bolívia, onde a condição indígena é quase sinônimo de nação, até nos meios urbanos, e para o México, uma sociedade com forte mestiçagem.
Os índios e os mestiços nas cidades
Além da diferente inserção em nações e de processos de modernização distintos, a condição dos indígenas tem-se transformado pelas migrações, pela incorporação de bens industriais e pela adoção voluntária ou imposta de formas de produzir e consumir que alteram suas diferenças tradicionais. Em certa medida, os recursos culturais ocidentais ou modernos têm passado a fazer parte do que temos chamado de “patrimônio intercultural” (García Canclini, 2004). Observa-se em reuniões, em que participam distintos grupos indígenas, que o espanhol, apesar de ser uma língua imposta, lhes serve para comunicar-se e estabelecer vínculos solidários.
Ante a crise dos modelos políticos nacionais e dos processos de modernização capitalista, surgem afirmações enérgicas de identidades indígenas, como o zapatismo mexicano e também os movimentos étnicos bolivianos e equatorianos que no último decênio provocaram a queda de governos. Houve mudanças legais a favor das autonomias indígenas na Colômbia e em partes do México, por exemplo em Oaxaca, assim como o reconhecimento do caráter multiétnico e pluricultural do Estado ocorreu na Bolívia (1994), Equador (1998), Guatemala (1985), Nicarágua (1987) e Paraguai (1992). Entre as ciências sociais, a antropologia é a que mais acompanha esses movimentos sociopolíticos, por meio de diagnósticos críticos do indigenismo e dos programas de etnodesenvolvimento (Bartolomé, Bonfil, Escobar e Stavenhagen), com os quais contribui para afiançar e legitimar politicamente as diferenças.
Ao mesmo tempo, alguns grupos indígenas e pesquisadores discutem a eficiência das afirmações da cultura e dos direitos políticos locais com base em uma perspectiva exclusivamente autonomista. Certos movimentos que erigiram utopias com base em tradições locais exacerbadas, como o Sendero Luminoso, têm mostrado seus perigos. Em vez das afirmações identitárias isolacionistas, o filósofo mexicano Luis Villoro sugere retomar da herança indígena o sentido comunitário de convivência. Segundo esse autor, aqueles que já não se definem pelo arraigamento à terra, nem dependem do trabalho agrícola comunal para subsistir, podem reelaborar essa perspectiva comunitária nas condições da cidade moderna (em conselhos de bairros ou de trabalhadores e associações da sociedade civil) e na medida de um mundo interdependente (Villoro, 2001, cap. I).
Mais que uma diversidade constante, a trajetória dos movimentos indígenas mostra processos de transformação, declinação e reemergência identitária. Vários autores destacam a migração para as cidades e as difíceis condições de sobrevivência nos novos contextos como explicações da reconstrução de bairros e movimentos indígenas em âmbitos não tradicionais. Fala-se de uma “etnogênese” urbana. Os enormes contingentes indígenas que deixam seus territórios históricos não são sinônimos automáticos de “desindianização”. Nas palavras de um informe da CEPAL, em “numerosos casos, tanto migrantes como residentes rurais mantêm vivos seus laços de parentesco, seus vínculos sociais e emocionais com seus lugares de origem”. Urrea (1994) assinala que os deslocamentos de migrantes indígenas ou negros aos centros urbanos, mais que a pedra da identidade, mostram uma adaptação contínua, o que está associado
à língua de origem, à conservação de uniões preferenciais entre membros do mesmo grupo de procedência, à manutenção do sistema de família de compadrio com algumas variações, aos padrões de criação e socialização comuns às áreas de origem e à conservação de uma boa parte das tradições vernáculas, sobretudo de uma cosmovisão ou inconsciente coletivo comum (Faust, 1990, citado por Urrea, 1994).

- Praça das Três Culturas e a igreja de Santiago Tlatelolco, onde foram descobertas novas pinturas indígenas do século XVI, na Cidade do México (Jesús Gorriti/Creative Commons)
Afro-americanos
A enorme presença de população de origem africana instalada, desde o período colonial, em vários países latino-americanos e caribenhos encontra-se tão deficientemente contabilizada quanto a indígena. Os censos não a registram em todos os países, e os que o fazem nem sempre tratam do mesmo modo o continuum e as diferenças cromáticas da pele, traços que costumam ser priorizados para identificar a diferença.
As estimativas globais, incluindo os negros e os mestiços afro-latinos, dão cifras em torno de 150 milhões de pessoas, ou seja, um terço da população latino-americana. Sua presença é maior no Brasil (74.833.200, que inclui 10% de negros e o restante de mestiços), na Colômbia (20% da população, sem diferenciação nítida), na Venezuela (10% da população) e depois no Haiti, República Dominicana, Cuba, Jamaica e Trinidad e Tobago. Outros países, onde se sabe que os afro-americanos têm presença significativa, como Costa Rica, México, Panamá e Uruguai, não oferecem números censitários. [Esses dados procedem de estudo da CEPAL, 2000, preparado por Alvaro Bello e Marta Rangel, que usou como fontes para as porcentagens de população negra e mestiça o U.S. Bureau of the Census, International Data Base (www.census.gov), exceto para o Brasil (www.ibge.gov), Haiti (www.odci.gov), Colômbia, República Dominicana e Venezuela (Larousse Moderno, 1991); para a população: Anuário estat ístico da CEPAL (1998)].
Uma apreciação da região mostra que a questão indígena tem um papel mais claro no continente devido à importância histórica e demográfica dos povos originários, aos quais é dado um crescente reconhecimento. Isso não acontece em relação aos grandes contingentes afro-americanos, aos quais têm sido negados quase sempre territórios, direitos básicos e a possibilidade de serem levados em consideração nas políticas nacionais. Existem estudos especializados, por exemplo, sobre a santería cubana, o candomblé brasileiro e o vudu haitiano e, ultimamente, as músicas que os representam são valorizadas e difundidas pelas indústrias culturais. Mas raras vezes se incluem os grupos que mantêm essas tradições culturais na análise estratégica do que pode ser a América Latina.
O afro-americano é tido, como ocorre às vezes com as contribuições indígenas, como contraparte ou complemento da herança ocidental, mas com alcance restrito. Todavia, não só no Brasil e nos países caribenhos, onde a “negritude” é mais visível, mas também na área andina, no México e em outras regiões da América Latina, as culturas nacionais e urbanas exibem a influência afro nos carnavais, nos templos e nos rituais religiosos, assim como nos usos de aportes “negros” nas indústrias culturais (De Carvalho, 2002). Não é possível compreender, sem essa participação, afrodanças como o rap, o hip-hop, o funk, o reggae e a champeta colombiana, nem fusões com o jazz e o rock, o tango e o huaino, o samba e a lambada, configurações simbólicas que permeiam práticas sociais de muitos setores latino-americanos, desde as culturas juvenis até os festivais de World music.
A força artística, cultural, desportiva e intelectual da presença afro-americana não tem sido suficiente para modificar radicalmente os dispositivos formais e informais de segregação. No Brasil, enquanto os brancos se concentram em ocupações não manuais (53%), os negros (81%) e os mestiços (70%) dedicam-se a trabalhos braçais. Essa distribuição injusta, que se manifesta também na exclusão de muitas áreas do mercado de trabalho, combina com a escolaridade mais baixa e a menor capacitação profissional dos afro-americanos. Algo semelhante ocorre com as populações negras de outras nações do continente. Enquanto isso, em vários países do Caribe, notoriamente em Porto Rico, os negros e mulatos livres (mais numerosos que os escolarizados)
chegaram a ser dos setores mais “cultos” – em termos de educação e refinamento – das Antilhas espanholas em diversos momentos de sua história, com uma participação ativa fundamental […] Esse pano de fundo é fundamental para entender a posição (mais que de resistência defensiva) da ofensiva cultural das culturas afro-caribenhas em diversos aspectos do panorama cultural contemporâneo (Quintero Rivera, 2002, p. 136).
Não é por acaso que a música e a pintura do Caribe tenham dado mais cedo lugar de destaque à produção cultural afro e tenham facilitado sua projeção internacional: desde meados do século XX registra-se um impacto internacional da salsa em Nova York, do reggae em Londres e do soul em Paris, além de uma vasta difusão dessas músicas em regiões não afro-americanas da América Latina.
Ultimamente, observam-se mudanças também em vários países continentais, por exemplo, em alguns centros de educação – especialmente universitários – do Brasil, que começam a aplicar medidas de “discriminação positiva”, designando cotas mínimas de ingresso para esse grupo. A Constituição brasileira de 1988 e a colombiana de 1991 incluem compensações legais que reconhecem direitos culturais e territoriais para as comunidades negras.
O afro na multiculturalidade atual
A maior visibilidade da presença afro-americana – de modo análogo ao que ocorre com as diferenças de gênero – começa a mudar em alguns setores intelectuais, artísticos e políticos a reflexão sobre o multiculturalismo, a cidadania e as desigualdades. Modificam-se, assim, as definições oficiais de nação e de latino-americanidade e também os esquemas sociológicos e antropológicos construídos predominantemente com base na etinicidade indígena. Poderíamos dizer que se vai abrindo o horizonte do que significa ser latino-americanos (Escobar, 1999; Wade, 1998).
Contudo, nas indústrias culturais, que também concedem mais espaço aos grupos afro-americanos e a suas culturas, prevalece a tendência a incorporá-los de forma “fetichizada”. As culturas negras são valorizadas por sua concepção mais livre do corpo, por sua capacidade de restituir “valores humanos perdidos no Ocidente: a festa, o riso, o erotismo, a liberdade corporal, o ritual vital, a espontaneidade, o relaxamento de tensões, a sacralização da natureza e do cotidiano” (De Carvalho, 2002, p. 104). Por um lado, esse atrativo vem favorecendo fusões musicais e a incorporação de alguns representantes bem-sucedidos do esporte e da música a discursos culturais nacionais e internacionais, o que contribui para valorizar uma parte das culturas afro-americanas. Por outro, como foi destacado por José Jorge de Carvalho, a dinâmica uniformizadora e simplificadora da massificação industrial da cultura tende a nivelar as diferenças e “equalizar” – igualmente a gravações que, mediante procedimentos eletrônicos, reduzem variações tímbricas e diferenças melódicas – a diversidade das culturas. A equalização diminui o discordante, os pontos de resistência e os desafios dos diferentes (De Carvalho, 1995).
Percebe-se na exotização e nos usos midiáticos da produção cultural afro-americana algo semelhante ao que ocorre com a reutilização dos artesanatos e dos saberes médicos tradicionais das culturas indígenas. As análises estruturais sobre o papel das populações afro-americanas nas sociedades contemporâneas – à medida que se toma consciência, como nos estudos da CEPAL e dos antropólogos citados, de sua centenária exploração – indicam que a “integração” será superficial e, novamente, marginalizadora se não vier acompanhada de uma reestruturação do controle da produção da cultura pelos próprios grupos e a gestão autônoma de suas diferenças. Além de incorporar os produtos como bens estéticos ou mercadorias, é necessário reconhecer os direitos das comunidades que os geram.
Europeus e asiáticos
A essas formas tradicionais de diferenciação sociocultural, constituídas pelas populações indígenas e afro-americanas, agrega-se a diversidade produzida do século XVI ao XX pelas migrações espanholas, portuguesas, inglesas, francesas, holandesas, italianas e judias. A tudo isso se incorporou, ao longo do século XX, a chegada de contingentes asiáticos – japoneses, chineses e coreanos – que foram se integrando na América Latina. A rigor, é insuficiente nomear como latina essa América tão heterogênea. Talvez convenha manter essa designação porque é a que melhor permite nos entendermos entre os latino-americanos, elaborar projetos comuns e nos posicionar ante o mundo. Mas convém não esquecer essa multinacionalidade e multietnicidade.
É difícil medir e avaliar a incidência das culturas europeias e asiáticas no espectro da diversidade latino-americana. Em vários países, decidiu-se não perguntar nos censos sobre tais diferenças como um modo de evitar discriminações. Em outros casos, a dificuldade deriva do alto grau de mistura desses migrantes, e sua relativa dissolução como comunidades diferenciadas (por exemplo, espanhóis e italianos).
Estima-se que entre 1846 e 1930, das 52 milhões de pessoas que deixaram a Europa, 21% se dirigiram para a América Latina. Desse total, 38% eram italianos, 28% espanhóis e 11% portugueses. A maioria dos migrantes escolheu como destino a Argentina, o Brasil, Cuba e as Antilhas, Uruguai e México. A chegada desses contingentes europeus aumentou, entre 1840 e 1940, em 40% a população argentina e em aproximadamente 15% a brasileira (González Martínez, 1996).
Os estilos culturais e, em alguns casos, as experiências políticas e sindicais desses migrantes em seus países de origem influíram notavelmente na organização educativa, política e trabalhista das sociedades latino-americanas durante os séculos XIX e XX, quando elas estavam em formação como nações e Estados modernos. Durante a Segunda Guerra Mundial, e no caso espanhol durante as décadas do franquismo, os migrantes europeus na América Latina contribuíram para criar editoras e instituições educativas, e interconectaram às culturas latino-americanas os processos que se desenvolviam fora da região. Tudo isso ampliou a concepção histórica da diversidade na América Latina e as referências interculturais do mundo.
Em fins do século XX e princípios do XXI, dois movimentos entre a América Latina e a Europa intensificaram os intercâmbios. Um deles foi o ciclo migratório da América Latina para a Espanha, Itália, Alemanha e outros países europeus de milhões de perseguidos políticos que escaparam das ditaduras miliares do Cone Sul e dos conflitos armados na América Central, assim como desempregados ou desesperançados pela decadência econômica desses mesmos países e do Peru, Colômbia e Equador (também há que se considerar detonantes de novos processos de interculturalidade as migrações de sul-americanos e centro-americanos para o México, Costa Rica e Estados Unidos, pelos mesmos motivos).
O outro foi a expansão na América Latina de empresas, editoras, agências de telecomunicações e bancos europeus, que influíram notavelmente nos hábitos de trabalho e na comunicação sociocultural. Algo semelhante acontece em alguns países latino-americanos com a chegada de empresas chinesas, japonesas e coreanas. O que significa isso em relação à ampliação da diversidade cultural? Estudos recentes distinguem entre as fábricas globalizadas que produzem vestimentas, televisores e automóveis em todos os continentes (preferencialmente no denominado Terceiro Mundo, devido aos menores custos com salários) e a persistência de culturas trabalhistas e cotidianas locais. A montagem de objetos e dispositivos eletrônicos pode ser semelhante em fábricas norte-americanas, japonesas e coreanas situadas no México, na Guatemala ou em Jacarta, mas as singularidades desses países continuam se manifestando nas relações de trabalho, familiares e pessoais, com modalidades diferentes em cada um.
A fábrica globalizada não produz automaticamente uma cultura trabalhista global […] Um televisor ou um rádio pode funcionar perfeitamente apesar de os seus componentes serem fabricados em lugares tão remotos como Taiwan, Cingapura, Brasil, Reino Unido, Japão, Estados Unidos e México. Uma calça pode ter desenho harmônico ainda que o tecido venha da Índia, os botões da Coreia, a linha da Alemanha e o zíper da Guatemala. Pode-se juntar isso tudo de forma coerente e exata, e os resultados podem ser, até certo ponto, homogêneos e previsíveis. Mas, quando se trata de juntar culturas, o panorama muda de maneira radical. Nesse caso, os componentes não são objetos inanimados, e sim seres humanos dotados de vontade, raciocínio, sentimentos, costumes e sonhos. Não se produz um melting pot em que desaparecem as características individuais ao fundirem-se em uma mistura uniforme. Na melhor das hipóteses, tempera-se uma salada na qual cada um dos ingredientes conserva o sabor e a textura que o distingue, ainda que a junção de tudo forme um conjunto integrado (Chang e Chang, 1994, p. 45).
Mas, muitas vezes, nem sequer se chega a isso: “A junção de culturas pode ser frustrada, persistem grupos opostos em disputa ou coexistindo com suas diferenças e com níveis muito baixos de consenso” (Reygadas, 2002, p. 15-16).
Centenas de mulheres cakchiqueles , que vivem na periferia da Cidade da Guatemala e trabalham em confecções coreanas que exportam para os Estados Unidos, continuam usando vestidos tradicionais indígenas. Mexicanos que residem na Califórnia conservam sua língua, costumes gastronômicos e formas de relações entre eles, e continuam ligados aos mixtecos de Oaxaca ou aos purépechas de Michoacán, os quais visitam para as festas e às vezes se servem como criados. Os brasileiros fazem algo semelhante com seus “negócios étnicos” em São Francisco (Califórnia), e os norte-americanos os identificam pela decoração dos seus bairros, a importância do café e as comemorações festivas. Se bem que, às vezes, a vizinhança com diversas minorias latinas os induz a se associar, aparecendo exemplos como a Taquería Goiana, fusão de goianos brasileiros com mexicanos, detectada pelo antropólogo Gustavo Lins Ribeiro. A diversidade persiste também fora do entorno originário, mesmo nos trabalhos esboçados por culturas distantes, e pode impulsionar também associações interculturais para afirmar uma diversidade mais complexa.
Diferenças decorrentes da globalização
Com base nos dados acima, fica claro que as sociedades latino-americanas não são distintas unicamente pela diversidade étnica, nacional ou regional. Um novo mapa de diferenças e desigualdades vai-se configurando na interação das culturas latino-americanas entre si e com os movimentos globalizadores. Os processos de mestiçagem, sincretismo ou hibridação têm propiciado a convivência de grupos variados. Têm ocorrido conflitos e desigualdades em muitas regiões da América Latina, mas com políticas menos segregacionistas e sem os enfrentamentos religiosos que ocorrem em outras partes do mundo. Por isso, é comum diferenciar a multiculturalidade latino-americana, por exemplo, da asiática e da norte-americana. Existem na América Latina fundamentalismos nacionalistas e etnicistas, que também promovem autoafirmações excludentes, ou seja, que absolutizam um único patrimônio cultural, tido como puro, baseado na autoestima como chave para a reivindicação de direitos das mulheres e das minorias nos Estados Unidos, e alguns movimentos indígenas e nacionalistas latino-americanos que interpretam de maneira maniqueísta a história e os conflitos sociais. Entretanto, o isolamento e a ação afirmativa a todo custo não são tendências prevalecentes na história da América Latina durante as últimas décadas.
Neste tempo de globalização torna-se mais evidente a versatilidade das identidades étnicas e nacionais, a interdependência assimétrica, desigual, mas que não se pode esconder, em cujo meio se esforça para determinar os direitos de cada grupo. Por isso, alguns movimentos de artistas e intelectuais que se identificam com demandas étnicas ou regionais, como as do zapatismo em Chiapas, colocam essa problemática particular, como os próprios zapatistas, em um debate sobre a nação e sobre como reassentá-la nos conflitos internacionais. Também as mobilizações de índios na Bolívia e no Equador, que têm no centro de suas agendas a mudança da exploração do gás ou do petróleo e o reposicionamento dos seus recursos naturais e culturais nas disputas internacionais, mostram os movimentos indígenas tomando as rédeas de seus interesses e objetivos históricos em meio à complexidade dos processos de globalização.
Nesse sentido, há um certo deslocamento nos últimos anos dos estudos sobre a diversidade para a análise da interculturalidade . Entender a ênfase da diversidade como a valorização da capacidade de cada nação, etnia ou grupo para expressar sua cultura em seu espaço próprio é, sem dúvida, uma necessidade importante. Mas, num mundo tão interconectado, a simples afirmação da diversidade pode conduzir ao isolamento e, finalmente, à ineficácia. Considera-se também necessário trabalhar nos espaços globalizados a favor da interculturalidade democrática : o problema não é que, apenas, a cada um se permita falar sua língua com seu grupo ou cantar suas canções e filmar suas festas no âmbito local; o desenvolvimento cultural põe hoje em jogo o que significa a convivência entre nativos e migrantes, entre distintas religiões, gostos e concepções da família, no meio de conflitos transnacionais. As perguntas não se referem só ao modo de reivindicar o peculiar. Podem, por exemplo, a escola e os meios de comunicação ajudar-nos a descobrir o valor do diferente, reduzir a desigualdade que converte as diferenças em ameaças irritantes e gerar intercâmbios construtivos a distância? Experimenta-se a necessidade de trabalhar, além dos direitos da diversidade, também sobre os direitos interculturais.
Indústria cultural da diversidade
A diversidade cultural não se configura exclusivamente, portanto, em cada sociedade, subordinando as diferenças étnicas e regionais em espaços educativos e políticos nacionais monolíngues. A interconexão de todas as classes e muitas etnias ocorre agora em escala transnacional, e as indústrias culturais têm-se convertido em agentes-chave na gestão globalizada das diferenças. É necessário considerar, então, como essas indústrias reorganizam a diversidade, especialmente pelos meios audiovisuais.
Uma questão conceitual importante é se o pertinente é denominar a sociedade atual como sociedade da informação ou sociedade do conhecimento . Quem preferir a primeira fórmula considera que os avanços e transformações modernizadores se nutrem da industrialização da informação e de seu emprego sistemático para reestruturar os processos produtivos, baratear desse modo o custo da produção, incrementar exponencialmente a capacidade de processar, armazenar e transmitir dados.
Nessa perspectiva, afirma-se que o desenvolvimento social e cultural depende de que todos os países se integrem à revolução digital e informacional e todos os setores de cada sociedade acedam a “trabalhos inteligentes” por meio das novas habilidades e da conexão com as redes nas quais se obtém informação estratégica. Com um enfoque semelhante ao que há três ou quatro décadas sustentou o desenvolvimentismo, pensa-se que a tecnologização produtiva, a expansão dos mercados e sua integração transnacional incrementarão os benefícios econômicos para toda a população. Como consequência, o acesso direto e simultâneo à informação logrará democratizar a educação e melhorar o bem-estar da maioria.
As mudanças ocorridas nas sociedades latino-americanas sob a reorganização neoliberal não avalizam esse otimismo tecnocrático. Os avanços na conexão informacional das sociedades, limitados a minorias, não resolvem as diferenças e desigualdades estruturais nem a marginalização dos setores populares. Na sociologia da educação se adverte que não há uma “simultaneidade sistemática” entre todas as dimensões do desenvolvimento, porque os educandos não são iguais, não têm idênticas possibilidades de aprender nem se interessam pelos mesmos conteúdos. Uma educação homogênea, baseada numa informação universal e estandardizada, não gera maior equidade nem democratização participativa. Se prestarmos atenção ao que nos dizem as múltiplas formas de pertença e coesão social, ouvimos pluralidade de demandas. São necessárias
adaptações pragmáticas aos grupos específicos (por exemplo, o bilinguismo em regiões multinacionais), buscar a pertinência curricular em função das realidades territoriais em que se desenvolve a escola, e destinar fundos especiais às regiões de maior vulnerabilidade social e precariedade econ ômica (Hopenhayn, 2002, p. 315-316).
Alguns grupos indígenas, camponeses e pobres urbanos empregam tecnologias avançadas (informáticas e de satélites) há vários anos. Usam-nos para registrar suas lendas orais, comunicar-se com movimentos equivalentes em regiões distantes e estabelecer solidariedade política. Em tais casos, comprovamos que as culturas tradicionais podem passar para a “segunda oralidade” dos meios audiovisuais e eletrônicos. Mas é necessário perguntar-se quais os benefícios dessas incorporações ocasionais, relativamente isoladas, para as redes avançadas do conhecimento. Seu impacto é maior em meios urbanos, mas, obviamente, exclui setores que carecem de equipamentos tecnológicos e mesmo de eletricidade.
Como tem acontecido com outros avanços tecnológicos, confiou-se que a internet reduziria as distâncias, a desigualdade, e que influiria em todos nós por meio das redes globalizadas. Efetivamente, a internet nos aproxima e torna simultâneas vidas distantes, mas, como 20% da população mundial monopoliza mais de 90% do acesso, aprofunda-se a distância entre ricos e pobres. Os meios de comunicação e a informática permitem imaginar que vivemos na sociedade do conhecimento, mas a reunião de cúpula sobre esse tema realizada em Genebra, em dezembro de 2003, registrou que 97% dos africanos não têm acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, enquanto a Europa e os Estados Unidos concentram 67% dos usuários de internet. A América Latina, que conta com 8% da população mundial e contribui com 7% do Produto Interno Bruto (PIB) global, participa do ciberespaço com apenas 4%. A baixa porcentagem de navegadores, de computadores e de acessos à internet, explica um informe da CEPAL, é causa e sintoma de nosso atraso e escassa visibilidade cultural nos diálogos midiáticos globais e nos espaços públicos internacionais: “Estar fora da rede é estar simbolicamente na intempérie ou na surdez!” (Hopenhayn, 2002, p. 13-14). Vejamos mais alguns dados:
No final de 2002, a densidade das comunicações na América Latina era heterogênea: enquanto a maioria dos lugares tinha televisão, 16% da população contava com telefonia fixa; 20% com telefonia celular; 8% com acesso à Internet e só 0,3% com acesso à banda larga” (Hilbert, 2003).
Esses números revelam que,
enquanto uma parte significativa da população tem acesso a informação, imagens, conteúdos e mensagens a distância emitidas por outros (e frente aos quais ostentam só a condição de receptores), uma parte menor tem a possibilidade de comunicar-se a distância em uma relação interpessoal, e uma parte ainda mais reduzida acede a meios interativos a distância que lhes permitem atuar como emissores frente a grupos mais amplos (Hopenhayn, 2005, p. 121).
As diferenças das etnias e dos grupos subalternos ou marginalizados comumente estão associadas a formas multidimensionais de desigualdade. O “tecno-apartheid” está intimamente ligado a um pacote complexo de segregações históricas configuradas pelas diferenças culturais e desigualdades socioeconômicas e educativas. Conseqüentemente, as formas antigas de diversidade cultural não podem ser ignoradas; no entanto, não são suprimidas pelas condições tecnológicas avançadas. As reflexões sobre a sociedade do conhecimento (não só da informação) necessitam retomar as análises precedentes sobre a conversão de diferenças em desigualdades causadas pela discriminação linguística, pela marginalização territorial e pela subestimação de saberes tradicionais ou sua baixa legitimidade jurídica.
Nas cidades, sobretudo nas gerações jovens, vemos amiúde que se continua afirmando a pertença étnica, grupal e nacional, e cada vez mais cresce o acesso aos repertórios transnacionais difundidos pelos meios urbanos e maciços de comunicação. A conjunção do mundo televisivo, computadores e videogames está familiarizando as novas gerações com os modos digitais de experimentar o mundo, com estilos e ritmos de inovação próprios dessas redes e com a consciência de pertencer a uma região mais ampla que o próprio país.
Um obstáculo para essa aprendizagem é que a participação desigual nas redes de informação combina-se com a desigual distribuição midiática dos bens e mensagens daquelas culturas com as quais estamos interagindo. Como construir uma sociedade (mundial) do conhecimento quando potentes culturas históricas, com centenas de milhões de integrantes, são excluídas dos mercados musicais, colocando-se em estantes marginais das lojas os discos que, paradoxalmente, levam o título de World music? Não há condições de efetiva mundialização das formas do conhecimento e representação expressadas nos filmes árabes, indianos ou latino-americanos se eles estão quase ausentes das telas dos países vizinhos. Tampouco circulam em cidades do Primeiro Mundo (Los Angeles, Nova York, Berlim), onde habitam milhões de migrantes dessas regiões que seriam seu público natural.
Algo semelhante ocorre com as ofertas musicais e fílmicas na televisão, vídeos e páginas da internet. A enorme capacidade das maiorais hollywoodianas – Buena Vista, Columbia, Fox, Universal e Warner Bros – de manejar combinadamente os circuitos de distribuição nesses três meios em todos os continentes lhes permite controlar a quase totalidade dos mercados, em benefício de suas produções. Convertem-se, assim, em administradores privilegiados da diversidade.
Políticas culturais
À medida que o autoconhecimento de cada sociedade – e o conhecimento do seu lugar entre as outras – se constrói também nas redes informáticas e nas produções narrativas, musicais e audiovisuais industrializadas, requerem-se políticas que garantam a diversidade e a interculturalidade nos circuitos transnacionais. Estamos em uma época em que cresce a aceitação da multiculturalidade na educação e nos direitos políticos, mas estreita-se a diversidade nas indústrias culturais.
A simples entrega dessa responsabilidade ao mercado para que “organize” a interculturalidade não amplia o reconhecimento das diferenças. São necessárias políticas nacionais e internacionais que considerem a diversidade por meio de legislações que protejam a propriedade intelectual, sua difusão e o intercâmbio de bens e mensagens, e controlem as tendências oligopólicas. Uma sociedade do conhecimento inclusiva requer padrões normativos nacionais e internacionais e soluções técnicas que respondam às necessidades nacionais e regionais, opondo-se à simples comercialização lucrativa das diferenças subordináveis aos gostos internacionais maciços.
Vários autores destacam, ao avaliar o que ocorreu com a gestão industrial e empresarial das diferenças, a necessidade de políticas públicas que garantam uma circulação mais equitativa do produzido por distintas etnias e nações. O ponto de partida é conceber a sociedade de modo multifocal e com relativa descentralização. Essa afirmação geral adquire sentidos distintos nas ciências e nos sistemas de representação sociocultural. O respeito à universalidade do conhecimento implica buscar a compatibilidade de saberes científicos e dos que correspondem a outras ordens de experiências simbólicas e modelos cognitivos. No entanto, nas indústrias da comunicação, as tendências homogeneizadoras dos mercados não gerarão uma verdadeira integração planetária nem latino-americana se não aceitarem a versatilidade exigida por formas de elaboração simbólica pouco rentáveis comercialmente.
O desenvolvimento atual da diversidade leva a postular o plurilinguismo e o policentrismo tanto nas ciências como nas indústrias culturais, ainda que sejam distintas as razões para se fazer isso, devido a suas dinâmicas diferentes. Na produção científica isso supõe impulsionar políticas que fortaleçam o desenvolvimento endógeno de pesquisas, publicações e atividades de intercâmbio em línguas diferentes do inglês, e a comunicação entre essas outras línguas por meio de traduções, publicações conjuntas, congressos e pesquisas comparativas.
Nas indústrias culturais, encontramos alta concentração da informação e dos outros modos de representação sociocultural, também com predomínio do inglês, e escassos espaços para as culturas minoritárias, e também para línguas e culturas que abarcam centenas de milhões de pessoas (espanhol, português, línguas indígenas).
Reconhecer a baixa capacidade da ciência e da produção industrializada de cultura para abarcar a diversidade cultural nos faz ver a sociedade do conhecimento como um processo apenas emergente. As inovações tecnológicas estão expandindo mais do que no passado os saberes científicos e outras formas de representação, mas nem a internet nem a difusão maciça transnacional de outros recursos de comunicação avançados bastam para conseguir uma incorporação generalizada do que chamamos sociedade do conhecimento. Não estamos ainda, propriamente, numa sociedade mundial. Prova isso a frustrada tentativa realizada na Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, em Genebra, de estabelecer um “fundo de solidariedade digital” que equilibre a apropriação das tecnologias avançadas, formado com o aporte de um dólar por computador vendido e 1% de cada ligação telefônica (Le Monde , Paris, 10 de setembro de 2003).
Diferenças étnicas e sustentabilidade
Todos os grupos sociais têm cultura, garante a antropologia, mas nem todos podem desenvolvê-la, segundo revelam os estudos sociológicos e econômicos sobre a diversidade. É necessário, então, não só respeitar as diferenças, mas também promover políticas que deem condições para a expressão e comunicação cultural equitativa dos diferentes grupos sociais.
É pouco viável a diversidade cultural num tempo de interdependências globais se ela só se apoiar nos direitos sobre a terra, a língua e a educação próprias de cada grupo. Há que se considerar outras condições para tornar sustentável a produção cultural de cada sociedade nesta época de intensa competitividade, inovação tecnológica incessante e forte concentração econômica transnacional. Alguns pensam que – assim como para proteger o meio ambiente deve-se limitar o desenvolvimento dirigido só pelo rendimento econômico – é preciso controlar a expansão das megacorporações de comunicação e proteger a produção cultural endógena de cada nação. Chega-se a falar de uma “ecologia cultural de desenvolvimento”: o patrimônio histórico, as artes e também os meios audiovisuais e os recursos informáticos são partes da continuidade identitária, recursos para a participação cidadã, o exercício das diferenças e os direitos de expressão e comunicação. A favor de uma consideração não só econômica de desenvolvimento, destaca-se que a cultura e as comunicações contribuem para o desenvolvimento comunitário, a educação para a saúde e o bem-estar, a defesa dos direitos humanos e a compreensão de outras sociedades. Há uma transversalidade da cultura que a inter-relaciona com as demais áreas da vida social (Yúdice, 2004). Muitos conflitos atuais se explicam, em parte, por ter-se esquecido de que o desenvolvimento econômico não se reduz a crescimento, inflação baixa e equilíbrio da balança comercial, e que o desenvolvimento social inclui essa dimensão própria da cultura que é encontrar sentido para o que fazemos.
Essa transversalidade das culturas com outras áreas da vida social é um requisito para seu desenvolvimento sustentável. Para consolidá-lo é preciso estimular outras estruturas, outras lógicas de produção e difusão, além das promovidas pelas megacorporações. As muitas funções da cultura não podem ser cumpridas se a indústria fonográfica edita só canções best-sellers ou a indústria cinematográfica atribui 95% de suas produções a um único país. Dito de outro modo, trata-se de criar espaços econômicos e circuitos de comunicação para as editoras independentes, os filmes de muitas culturas e as produtoras locais de discos e vídeos.
Como criá-los? Quando se defende a diversidade e as possibilidades expressivas de cada nação, inclusive das minorias, surgem vozes que exigem a reinstauração dos antigos controles de aduanas ou fronteiras. Essas formas de proteção são ineficazes num tempo de comunicações transnacionais e fusões multimídia entre os campos editorial, audiovisual e de telecomunicações. O melhor seria gerar condições propícias para que, por exemplo, a enorme produção musical independente da América Latina não ficasse isolada em concertos e feiras locais. Nos últimos anos, alguns organismos internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), têm procurado impulsionar políticas públicas que proporcionem subsídios estratégicos e créditos favorecidos, formem em mercadologia globalizada os produtores, os articulem em circuitos alternativos de empresas médias e pequenas, e favoreçam suas viagens e participação transversal em atividades socioeconômicas internacionais (festivais e feiras, megaespetáculos, turismo, programas de fundações e ONGs). Assim, a cooperação internacional é decisiva para reconstruir e renovar os aparatos institucionais dos Estados, para compreender quais são as áreas estratégicas da cultura e da comunicação nas quais os países latino-americanos podem melhorar sua competitividade internacional (alguns na indústria editorial, outros na produção de programas televisivos, outros no cinema ou na música). Outra iniciativa mencionada no começo do século XXI em reuniões de cúpula de presidentes latino-americanos é a possibilidade de intercambiar dívida por investimento internacional em programas educativos e culturais.
Uma parte-chave dessas ações revitalizadoras é também a de formar públicos culturais e usuários das novas tecnologias de comunicação, ou seja, colocar a aprendizagem da interculturalidade, a inovação e o pensamento crítico no centro das ações educativas. A democratização cultural requer estender a ação formativa e facilitadora dos Estados, como dotar de computadores e equipamentos audiovisuais as escolas e propiciar o que George Yúdice chama de “uma maneira de globalização vinda de baixo”, apoiada pela cooperação internacional.
Nesse delineamento da diversidade e da globalização, são importantes os estudos sobre consumo cultural, que ainda são insuficientes na América Latina (García Canclini, 1995; Sunkel, 1999). O espaço cultural latino-americano é formado por públicos – e não só por empresas de rádio, cinema, televisão e vídeo –, por Estados e organismos internacionais. Impulsionar sua produção cultural requer tanto financiamentos como legislação atualizada e capacidade empresarial competitiva, conhecimento do público, entendimento de seus instáveis gostos, destinação de dinheiro e pessoal para a pesquisa dos consumos culturais.
Desigualdades e direitos civis
A diversidade não se resume às diferenças étnicas ou nacionais, mas também se estabelece pelo acesso desigual aos bens do país e das redes internacionais; a sua capacidade de conexão ou exclusão torna-se parte central do desenvolvimento cultural. Diferença, desigualdade e conexão/desconexão são os três processos nos quais se configura atualmente a diversidade.
A pergunta acerca de como combinar esses três tipos de organização-segregação social pode gerar respostas diferentes em países com cerca de 50% a 70% de população indígena (Bolívia e Guatemala) e nas sociedades com uma história secular mestiça e moderna, mais estabelecida e com maior potencialidade para integrar-se a processos globalizados (México no Tratado de Livre-Comércio da América do Norte – NAFTA –, ou Argentina, Brasil e Uruguai no Mercosul). É difícil imaginar algum tipo de transformação rumo a um regime internacional mais justo sem impulsionar políticas que comuniquem aos diferentes (em termos étnicos, de gênero e de regiões), corrijam as desigualdades (surgidas dessas diferenças e das outras distribuições não equitativas de recursos) e conectem as sociedades com a informação, com os repertórios culturais, de saúde e bem-estar expandidos globalmente.
Em um estudo intitulado A desigualdade dos modernos, feito pela CEPAL e pelo Instituto Interamericano de Direitos Humanos (IIDH), apresenta-se um esquema operativo para tratar diferenças, desigualdades e desconexões. Ao tomar conjuntamente os direitos econômicos, sociais e culturais, ele mostra que a deficiente realização num campo depende das outras.
Os direitos culturais, sustenta esse texto, comumente se concentram no desenvolvimento de potencialidades pessoais e no respeito às diferenças de cada grupo: “proteção do idioma, a história e a terra próprias” (CEPAL-IIDH, 1997, p. 37). Os direitos socioeconômicos associam-se, geralmente, com o direito ao trabalho, à seguridade social, à alimentação, à educação, à moradia, e com a equidade no acesso a esses bens. O estudo da CEPAL-IIDH amplia a noção de direitos culturais, mostrando que a valorização das diferenças deve ser complementada com o que poderíamos denominar direitos conectivos, ou seja, “a participação na indústria cultural e nas comunicações” (Ibid., p. 36). Esses direitos afastam-se assim da definição mínima de direitos de sobrevivência ou verificação de indicadores de pobreza, que isolam esses fenômenos dos processos de desigualdade que os explicam.
Consequentemente, recolocam-se esses conceitos – como mostrou Amartya Sen, com base na problemática da “despossessão absoluta” – no campo da cidadania . O “umbral da cidadania” se conquista não só obtendo respeito às diferenças, mas contando com os “mínimos competitivos em relação com cada um dos recursos capacitantes” para participar na sociedade: trabalho, saúde, poder de compra e os outros direitos socioeconômicos, juntamente com a “cesta” educativa, informacional, de conhecimentos, ou seja, as capacidades que podem ser usadas para conseguir melhor trabalho e maior renda (Ibid., p. 43-44). O acesso segmentado e desigual às indústrias culturais, sobretudo aos bens interativos que fornecem informação atualizada, alarga
as distâncias no acesso à informação oportuna e no desenvolvimento das faculdades adaptativas que permitem maiores possibilidades de desenvolvimento pessoal, gerando assim menores possibilidades de integração socioeconômica efetiva (Ibid . , p. 38).
Uma possível conclusão desse texto sobre uma questão tão aberta como a da diversidade cultural é que seu campo tem-se alargado e tende a superar os exclusivismos. Estamos transitando de uma época em que importavam, sobretudo, as diferenças indígena, afro-americana ou nacional para um tempo de interconexões e cooperação internacional. Não é só um desejo voluntarista. Há exemplos de mudanças recentes que demonstram isso. Um é a maior solidariedade entre povos indígenas e a – ainda pequena – complementação entre sociedades latino-americanas nos processos de integração regional que não se limita a promover o livre-comércio. Outro dos campos em que essa modificação é comprovada é o da produção cinematográfica. Foi, sobretudo, para defender a cinediversidade que, nos anos 1980 e 1990, os franceses e alguns países latino-americanos sustentaram a “exceção cultural” ante a homogeneização dos mercados buscada por Hollywood. Tratava-se de proteger o direito dos Estados de adotar políticas culturais nacionais fora do alcance da liberalização comercial promovida pela Organização Mundial do Comércio (OMC). O projeto de convênio promovido pela Unesco ainda persegue esse objetivo e, em parte, é valioso como acordo internacional.
Contudo, nos últimos anos, muitos Estados e produtores culturais de países pequenos e médios consideram que os convênios e as recomendações só terão eficácia se forem acompanhados de programas efetivos de cooperação e coprodução internacional. Em nosso continente o empreendimento mais significativo nessa direção é o programa Ibermedia, com que as reuniões de cúpula latino-americanas promovem a coprodução audiovisual da região. O programa conseguiu que os 59 filmes coproduzidos pela Espanha e países latino-americanos nos quinze anos anteriores a ele pulassem para 159 no período 1998-2004. Todavia, o incremento da produção não se traduz na maior presença do cinema ibero-americano nos demais países da região. A partir do ano 2000, tem-se filmado mais de duzentos filmes por ano na América Ibérica, mas o último informe da Ibermedia destaca que o controle estadunidense da distribuição e exibição apenas permite que cada país projete em média seis filmes ibero-americanos de nacionalidades diferentes. O informe conclui que “no setor cinematográfico não se pode ainda falar da região como um espaço de comércio comum”.
Esses avanços na produção com magros resultados na distribuição e exibição indicam a necessidade de promover a diversidade cinematográfica – e em todas as demais áreas culturais – tendo em conta o conjunto do ciclo de produção, circulação e consumo. A diversidade se alcança e ganha sustentabilidade à medida que se consegue a gestão autônoma de cada cultura na articulação solidária com muitas outras.
Bibliografia
- BONFIL, Guillermo. El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial. (1972). In: Obras escogidas de Guillermo Bonfil. México: Instituto Nacional Indigenista, 1995. v. 1.
- __________. México profundo: una civilización negada. México: Grijalbo/ Cinaculta, 1989.
- CEPAL. Etnicidad, “raza” y equidad en América Latina y el Caribe. 7 de agosto de 2000.
- CEPAL; IIDH. La igualdad de los modernos: reflexiones acerca de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en América Latina. Costa Rica: CEPAL-IIDH, 1997.
- CHANG, Sup Chan; CHANG, Nahn Joo. The Korean management system: cultural, political, economic foundations. Westport: Quorum Books, 1994.
- DE CARVALHO, José Jorge. Hacia una etnografía de la sensibilidad musical contemporánea. Brasília: Universidade de Brasília, Departamento de Antropologia, 1995. (Série Antropología, 195), 1995.
- __________. Las culturas afroamericanas en Iberoamérica: lo negociable y lo innegociable. In: GARCÍA CANCLINI, Néstor (Coord.). Iberoamérica 2002: diagnóstico y propuestas para el desarrollo cultural. México: OEI, Santillana, 2002. [Em português: Culturas da Ibero-América: diagnósticos e propostas para seu desenvolvimento. São Paulo: Moderna/OEI, 2003.]
- DÍAZ-POLANCO, Héctor (Comp.). Etnia y nación en América Latina. México, D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995.
- ESCOBAR, Arturo. El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea. Santafé de Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología/Cerec, 1999.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor. Consumidores y ciudadanos: conflictos multiculturales de la globalización. México: Grijalbo, 1995. [Em português: Consumidores e cidadãos. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2005.]
- __________. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad. Barcelona: Gedisa, 2004.
- GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Elda E. Españoles en América e iberoamericanos en España: cara y cruz de un fenómeno. Arbor, 154 (607), 1996, p. 15-33.
- HOPENHAYN, Martín. América Latina desigual y descentrada. Buenos Aires: Norma, 2005.
- __________. Educación y cultura en Iberoamérica: situación, cruces y perspectivas. In: GARCÍA CANCLINI, Néstor (Coord.). Iberoamérica 2002: diagnóstico y propuestas para el desarrollo cultural. México: OEI, Santillana, 2002.
- LÓPEZ, Luis Enrique. La diversidad étnica, cultural y lingüística latinoamericana y los recursos humanos que la educación requiere. Revista Iberoamericana de Educación, n. 13 – Educación bilingüe intercultural. OEI.
- QUINTERO RIVERA, Ángel. Migración, cultura y ciudadanía: aportes al conocimiento recíproco y al patrimonio compartido. In: GARCÍA CANCLINI, Néstor (Coord.). Iberoamérica 2002: diagnóstico y propuestas para el desarrollo cultural. México: OEI, Santillana, 2002.
- REYGADAS, Luis. Ensamblando culturas: diversidad y conflicto en la globalización de la industria. Barcelona: Gedisa, 2002.
- RIBEIRO, Gustavo Lins. (Lins Ribeiro) Lo que hace al Brasil, Brazil. In: Postimperialismo. Cultura y política en el mundo contemporáneo. Barcelona: Gedisa, 2003.
- SUNKEL, Guillermo (Coord.). El consumo cultural en América Latina. Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello, 1999.
- URREA, Fernando. Pobladores urbanos redescubiertos: presencia indígena en ciudades colombianas. In: CELADE et al. Estudios sociodemográficos de pueblos indígenas, publicación de Celade (LC/DEM/G. 146, série E, n. 40). Santiago de Chile: 1994.
- VILLORO, Luis. De la libertad a la comunidad. México: Cátedra Alfonso Reyes (ITESM), Planeta, 2001.
- WADE, Peter. Población negra y la cuestión identitaria en América Latina. Conferencia dada en el Seminario Internacional Univalle-Orstrom. In: Las dinámicas identitarias en un contexto de gran movilidad: reflexiones a partir del Pacífico colombiano. Cali, Colombia, 8-11 dez. 1998.
- YÚDICE, George. El recurso de la cultura. Buenos Aires-Barcelona-México: Gedisa, 2002.
- __________. Industrias culturales y desarrollo culturalmente sustentable. In: Industrias culturales y desarrollo sustentable. México: Conaculta/OEI, 2004.