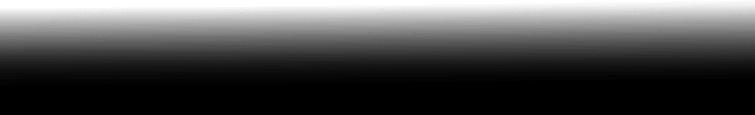A história da energia confunde-se com sua comercialização. Embora a palavra remonte a Aristóteles, o conceito de energia é moderno. Data de 1842, quando o médico Julius Robert von Mayer percebeu que calor e trabalho mecânico convertiam-se um no outro no corpo humano. No ano seguinte, o físico James Prescott Joule redescobriu, independentemente, a mesma lei em sistemas mecânicos, e calculou a relação quantitativa entre calor e trabalho.
Em 1852, o físico William Thompson (mais tarde conhecido como Lord Kelvin) conceituou o fenômeno como a conservação de uma grandeza física mensurável e comum a esses fenômenos, chamada de energia. A unificação nesse novo conceito de vários fenômenos antes vistos como separados – incluindo movimento, calor, luz, eletricidade, magnetismo e radiatividade – levou mais duas ou três décadas.
Quase tão rapidamente quanto foi formulado, o conceito, inicialmente abstruso e especializado, tornou-se não só uma mercadoria rotineira, como uma das principais chaves do poder econômico. Já em 1859, com os poços abertos por Edwin Drake em Titusville, Estados Unidos, a extração de petróleo ganhou uma escala que a fez saltar repentinamente de uma atividade artesanal quase marginal – uma alternativa inferior, barata e malcheirosa, aos óleos vegetais e de baleia usados em lamparinas – para a condição de grande indústria. Em poucos anos, o petróleo converteu-se num produto essencial, com poder de ditar condições a toda a economia.
Outro marco importante foi a invenção da luz elétrica. Em 1872, o russo Aleksandr Lodygin patenteou uma lâmpada elétrica que a Marinha do seu país usava em estaleiros e até debaixo da água, na construção de uma ponte. Dois canadenses a reinventaram no ano seguinte. Mas foi o estadunidense Thomas Edison que examinou as duas invenções antes de patentear a sua, em 1879. Por isso, ele acabou ficando conhecido como seu inventor. O que Edison construiu foi uma lâmpada mais prática e barata, vendida num bem concebido programa publicitário, que fez da Edison Electric Light Company uma potência.
As sete irmãs
John D. Rockefeller, em 1870, começou a reunir as empresas petrolíferas de vários estados dos EUA na sua Standard Oil. Em 1882, ele já controlava de 90% a 95% do mercado. Tornou-se o primeiro bilionário em dólares da história, reunindo um poder econômico sem precedentes. Isso inspirou, em 1890, a primeira lei antitruste, a Lei Sherman, que autorizava o governo federal a intervir em tais situações.
Com base nessa lei, a Standard Oil foi processada e obrigada, em 1911, a dividir-se, transformando suas filiais em empresas independentes. A de Nova Jersey continuou conhecida como S.O., ou Esso, nome pelo qual ainda é conhecida na América Latina, embora em seu país tenha sido rebatizada como Exxon. A de Nova York foi renomeada como Mobil Oil, a S.O. da Califórnia (Socal) passou a chamar-se Chevron e a de Indiana, Amoco.
As três primeiras fazem parte das famosas “sete irmãs”, apelido dado ao cartel do petróleo, nos anos 1950, pelo empresário Enrico Mattei, presidente da italiana Agip. As “sete” incluíam ainda as texanas Texaco e Gulf Oil (fundadas em 1901 e beneficiárias da lei Sherman), a anglo-holandesa Royal Dutch-Shell (produto da fusão, em 1907, da holandesa Royal Dutch, exploradora de petróleo na Indonésia, com a britânica Shell, exportadora de petróleo russo para a Ásia) e a britânica British Petroleum (originalmente Anglo-Persian, fundada em 1909 e pioneira no Oriente Médio).
Em 1972, das doze maiores empresas do mundo, sete eram as “irmãs”. Apesar da expropriação de parte de seus campos por países árabes e pela Venezuela, o controle que exerciam sobre os canais de processamento e comercialização do petróleo manteve-as em posição de poder, só temporariamente enfraquecida pela queda do preço do petróleo e pelas pressões do ambientalismo, na década de 1990. Nesse período, além disso, as fusões e aquisições, promovidas para recuperar suas margens de lucro, reduziram as irmãs a quatro – ExxonMobil, Shell, BPAmoco e ChevronTexaco (que absorveu também a Gulf). Isso concentrou o mercado ainda mais e ampliou seu poder relativo no início do século XXI, em que o petróleo tende a tornar-se, outra vez, e talvez definitivamente, um produto escasso.
Petróleo e os primórdios do mercado na América Latina
Ainda em 1863, três anos após jorrar o primeiro poço de Drake, iniciou-se em Zorritos, perto de Piura, Peru, a produção de petróleo na América Latina. Das iniciativas locais do século XIX, todas privadas, algumas foram sufocadas no berço pela importação do combustível dos EUA, como as fábricas de querosene fundadas em Jujuy, Argentina, em 1875, e Papantla, México, em 1881. Outras resistiram mais, como a de Táchira, Venezuela (1878), e a de Mendoza, Argentina (1886).
A primeira produção regional a tomar proporções significativas foi a do México, sob o comando de transnacionais. Em 1881, o governo de Porfirio Díaz outorgou concessão e amplas facilidades aos investidores estrangeiros, a começar pelos dois norte-americanos, mas também aos de outros países, evitando a dependência exclusiva em relação aos EUA. As empresas norte-americanas, no mesmo ano, produziram 18 mil barris de petróleo numa fazenda adquirida em Ebano, Estado de San Luis Potosí.
A partir do século XX, a energia tornou-se um fator cada vez mais importante nas intervenções imperialistas e nas escolhas políticas e geopolíticas das nações da América Latina. Uma das primeiras manifestações dessa questão foi a decisão do presidente mexicano Francisco Madero, reformista eleito após a deposição do ditador Porfirio Díaz pela Revolução Mexicana de 1910, de criar um novo imposto sobre a produção de petróleo. Inconformados, grupos britânicos e norte-americanos apoiaram militares golpistas e Victoriano Huerta que, três anos mais tarde, depôs Madero e o fuzilou com a conivência do embaixador dos EUA. No ano seguinte, os marines desembarcaram em Veracruz e abriram caminho até a Cidade do México, para apoiar Venustiano Carranza contra Victoriano Huerta, que parecia flertar com a Alemanha. Mas Carranza lutou pelo controle do setor petrolífero e a Constituição que promulgou em 1917 nacionalizou o subsolo, estabelecendo o paradigma que seria adotado nas décadas seguintes por vários outros governos latino-americanos. Em 1921, o México tornou-se o segundo maior produtor de petróleo, depois dos Estados Unidos.
Na Argentina, em 13 de dezembro de 1907, o Ministério da Agricultura acidentalmente descobriu petróleo ao procurar água potável para os habitantes de Comodoro Rivadavia, na Patagônia. Os capitais estrangeiros lançaram-se a essa nova fronteira, mas tiveram de concorrer com o Estado argentino. Este, em 1922, criou a primeira grande empresa estatal da América Latina, a Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF), à qual coube, a partir de 1935, a regulação do setor, do preço interno dos derivados e das concessões privadas.
Enquanto os EUA substituíam a Grã-Bretanha como poder hegemônico na América Latina – primeiro sobre a América Central, Caribe e região andina, depois sobre o Cone Sul –, o petróleo ultrapassava o café e tornava-se a mercadoria mais importante do comércio internacional, posição na qual permanece até hoje.
O desembarque das transnacionais na Colômbia, Equador e Peru fez também, desses países, produtores de certa importância. O Paraguai, em 1920, rompeu o isolamento em que vivia desde a Guerra da Tríplice Aliança para tentar atrair investidores para esse setor, mas pouco mais tinha a oferecer além da vaga possibilidade de petróleo na região do Chaco – que se mostrou uma miragem, mas não antes de originar uma guerra dispendiosa e fratricida com a Bolívia, afinal derrotada. O Peru também foi à guerra com o Equador pelas supostas jazidas petrolíferas da Amazônia em 1942.
Início do mercado de energia
No mesmo ano em que Edison patenteou sua lâmpada, começou a funcionar a primeira planta termelétrica da América Latina, para uma fábrica têxtil de León, México. Dois anos depois, iniciou-se o primeiro serviço público de iluminação elétrica, na Cidade do México.
Em 1883, um ano depois da inauguração da primeira hidrelétrica do mundo, em Wisconsin, EUA, outra usina do mesmo tipo foi construída para uma companhia de mineração de Diamantina, em Minas Gerais, Brasil. Também começaram as instalações públicas de luz elétrica nas cidades de Campos, no Rio de Janeiro, Brasil, e La Plata, Argentina, poucos meses depois da inauguração do serviço pioneiro de distribuição de eletricidade e iluminação por cabos aéreos em Roselle, quartel-general de Edison.
No Brasil, dada a abundância de energia hidráulica, a eletricidade era bem mais econômica do que o carvão importado. A indústria, que entre 1890 e 1909 atravessou um crescimento explosivo (o número de estabelecimentos cresceu 800%), aderiu celeremente à nova opção. A rápida expansão urbana também estimulou o uso de eletricidade para a iluminação e o transporte públicos. Em 1892, a primeira linha de bondes da América Latina começou a funcionar no Rio de Janeiro. Em 1898, foi criada em Toronto a São Paulo Tramway, Light and Power, cujas usinas elétricas logo monopolizariam o fornecimento nas duas maiores cidades do país – Rio de Janeiro e São Paulo.
Modelos mexicano e venezuelano
Em 18 de março de 1938, o governo do México, sob Lázaro Cárdenas, tomou outra decisão que marcaria época. Após as transnacionais recusarem-se a acatar uma decisão judicial que obrigava a participação dos sindicatos na gestão das empresas, Cárdenas expropriou o setor e o colocou sob a gestão da estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). A tentativa das transnacionais e do governo britânico de reverter a medida por meio de boicotes, guerra econômica e propaganda foi derrotada pela deterioração do cenário internacional e pela irrupção da Segunda Guerra Mundial. Para garantir que o petróleo mexicano ficasse à disposição dos aliados, e não do Eixo, os EUA aceitaram a posição mexicana e pressionaram o Reino Unido a fazer a mesma coisa.
Outros países seguiram o exemplo mexicano, incluindo a Bolívia, o Brasil (que nacionalizou o subsolo em 1937, descobriu petróleo em 1939 e criou a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras – em 1953). A Argentina nacionalizou o petróleo em 1949 e também se tornou o primeiro país latino-americano a fazer uso do gás natural em grande escala, com a construção, pela YPF, de um gasoduto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires. Ao ser inaugurado em 1949, ele era o de maior diâmetro no mundo.
A combinação de relativa estagnação da produção com o aumento do consumo interno, em virtude do ciclo de desenvolvimento acelerado, fez o México perder a posição de grande exportador na década de 1950. Foi substituído nesse papel pela Venezuela, cujos campos descobertos por transnacionais na década de 1920, na costa do lago Maracaibo, foram rapidamente desenvolvidos após a nacionalização mexicana. Para evitar os transtornos da experiência mexicana, as transnacionais, na Venezuela, pagaram melhores salários, estimularam a formação de uma classe média e deram ênfase a um trabalho social “fordista” e às relações públicas, procurando fazer com que seus trabalhadores e a sociedade se identificassem com seus interesses. A Venezuela permaneceu muito tempo sob ditaduras militares (até 1958, excetuando o período 1945–1948) e foi, até a década de 1970, o único país latino-americano a permitir a livre atuação das transnacionais do petróleo.
Eletricidade e desenvolvimentismo
A participação estatal na energia elétrica avançou de forma menos dramática e mais gradual do que a petrolífera. Apesar do retorno esperado da geração de energia elétrica e de sua importância para o desenvolvimento capitalista, as transnacionais evitaram os grandes investimentos em hidrelétricas, principalmente nas regiões menos desenvolvidas. Mesmo assim, em alguns casos, a estatização enfrentou forte oposição.
No México, em 1937, foi criada a Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender a demanda rural, pois as transnacionais (principalmente a Mexican Light e a American and Foreign) só se interessavam pelos mercados urbanos mais rentáveis, que representavam 38% da população. Ainda em 1960, apenas 44% da população tinha acesso à eletricidade. A CFE já supria 54% do mercado e o governo decidiu nacionalizar completamente o setor, o que permitiu integrá-lo ao já estatal setor petrolífero, unificar os sistemas de transmissão, padronizar voltagens e frequências e mais que dobrar a capacidade de geração durante os anos 1970 e 1980.
Na Argentina, as transnacionais de eletricidade atuavam desde o final do século XIX, mas na década de 1940, as zonas rurais continuavam mal atendidas. O primeiro governo de Juan Domingo Perón criou, então, as Centrales Eléctricas del Estado e a Dirección Nacional de Energía, integradas à Direção de Irrigação. Na capital, as principais concessões privadas venceram em 1957, o que permitiu que a maior parte do serviço fosse nacionalizada em 1958 pelo governo desenvolvimentista de Arturo Frondizi, facilitando a integração energética e sua articulação com os planos de desenvolvimento. Outra concessionária privada teve sua concessão renovada em 1962 e continuou a atender 10% da capital até 1979.
De forma semelhante, no Brasil, a criação da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) e, em seguida, da Comissão do Vale do São Francisco (CVSF) seguiram o figurino da Tennesse Valley Authority dos EUA, fundada para promover o desenvolvimento de uma região atrasada. As Centrais Elétricas de Furnas foram financiadas, a partir de 1957, pelo Banco Mundial, época em que 81% da geração ainda era privada. A centralização do planejamento e da geração nas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), com atuação privada na distribuição, concebida no segundo governo de Getúlio Vargas, foi muito combatida pelas concessionárias transnacionais (principalmente a canadense Light & Power, no eixo Rio–SP, e a estadunidense Amforp, em cidades menores), pelos Diários Associados e pela Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), mas acabou sancionada no governo de João Goulart, durante o qual a subsidiária da Amforp no Rio Grande do Sul foi encampada pelo governador Leonel Brizola.
Ironicamente, a ditadura militar que derrubou Goulart por seu “esquerdismo” continuou a implementar a proposta da Eletrobrás. Indenizou a Amforp pela encampação de 1963, mas adquiriu o resto de suas usinas em 1965. E foi além: estatizou praticamente toda a distribuição até 1979, quando expirou a concessão da Light. Em face da resistência das transnacionais, o governo militar não teve outra alternativa a não ser investir para atender a demanda decorrente das altas taxas de crescimento – principalmente em São Paulo, onde se concentravam os investimentos industriais. O governo federal, junto com governos estaduais, construiu então as grandes hidrelétricas, que elevaram a capacidade instalada de menos de 6 gigawatts, em 1962, para cerca de 30 gigawatts, em 1980.
A Argentina, que dependia em 87% de energia termelétrica, também iniciou, em 1969, a construção de grandes hidrelétricas. Apesar de não deter a mesma disponibilidade de recursos hidráulicos que o Brasil (cujos rios já forneciam praticamente toda a eletricidade consumida), as hidrelétricas chegaram a fornecer ao país metade da sua eletricidade por volta de 1980.
Energia nuclear na América Latina
Uma das manifestações da rivalidade entre os regimes militares da relativamente estagnada Argentina e do economicamente ascendente Brasil, dos anos 1960 e 1970, foram os programas nucleares de ambos os países. O interesse argentino pela energia nuclear começara no governo Perón que, entre 1948 e 1952, desperdiçara muito dinheiro para construir, em Bariloche, um reator de fusão nuclear proposto pelo físico austríaco Ronald Richter, que acabou se revelando uma vergonhosa fraude.
Em 1955, a Argentina criou uma comissão para tratar do assunto com mais seriedade: em 1957, foi inaugurado o primeiro reator experimental e a empresa estatal Investigación Aplicada (Invap), criada em 1976, chegou a ser internacionalmente competitiva na construção de equipamentos de pesquisa. Em 1968, a Argentina começou a construir, com tecnologia alemã da Siemens, sua primeira usina nuclelétrica comercial, Atucha I, inagurada em 1974, na província de Buenos Aires, seguida pela Embalse Río III, em Córdoba, em 1984, e Atucha II, em construção desde 1981.
- A Central Nuclear Atucha I - II, na Argentina, em maio de 2010 (Mrcukilo/Wikimedia Commons)
Embora o Brasil tenha abundante energia hidrelétrica, em 1970 sua ditadura militar decidiu também construir a usina Angra I, com tecnologia da norte-americana Westinghouse. Como os EUA se recusaram a transferir tecnologia, em 1975 o Brasil fez outro acordo com a Alemanha e a Siemens, envolvendo todo o ciclo nuclear. A crise econômica, entretanto, levou ao adiamento desses projetos, que se mostraram muito mais dispendiosos do que se planejara. Além disso, as esperanças dos militares de ambos os países de desenvolver armas nucleares foram frustradas pelas pressões dos EUA e abandonadas em fins dos anos 1980. Mesmo assim, as usinas foram levadas em frente, ainda que lentamente. Angra I foi inaugurada em 1983, com seis anos de atraso e apenas 30% da capacidade prevista. O funcionamento dessa usina, particularmente problemática, foi interrompido 22 vezes nos primeiros três anos. Angra II foi inaugurada em 2000, e Angra III, após sucessivos adiamentos, entraria em operação comercial em 2018.
O único outro país latino-americano a construir centrais nucleares foi o México. Durante a bonança petrolífera dos anos 1970, o governo López Portillo chegou a licitar a construção de vinte delas – o que para esse país significaria apenas trocar a exportação de energia nacional relativamente barata por energia importada extremamente cara e uma modernização meramente simbólica, pois o México tinha pouca pesquisa própria na área e nenhuma ambição militar. Duas unidades chegaram a ser construídas, em Laguna Verde, na costa do Golfo do México, com tecnologia General Electric, e operam (com frequentes interrupções) desde 1990.
Cuba também deu início à construção de dois reatores com tecnologia soviética. Nesse caso, a proposta era mais racional: a ilha não tem fontes significativas de energia hidrelétrica ou combustível fóssil e a dependência de petróleo importado a deixa sob permanente ameaça de paralisação. Mas o colapso da União Soviética resultou no congelamento do projeto em 1992.
A crise do petróleo
Nos anos 1970, vários países árabes e a Venezuela também nacionalizaram seu petróleo e, por meio da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), assumiram o controle do mercado internacional, elevando drasticamente o preço do produto – uma rara vitória dos exportadores de produtos primários.
A crise econômica – resultado da combinação do fim da conversibilidade do dólar em ouro e dos acordos cambiais e financeiros internacionais do pós-guerra (Bretton Woods) com a alta do preço do petróleo – fez com que o mundo capitalista tomasse uma súbita consciência da finitude dos recursos naturais e do perigo de perder o controle de seus mercados. Essa visão foi acentuada pela revolução iraniana.
O Golfo Pérsico passou a dividir o centro do cenário geopolítico mundial com a “Cortina de Ferro” da Europa central. Vários países do mundo (inclusive o Brasil) desenvolveram novos campos petrolíferos e alternativas energéticas, prevenindo-se contra o cartel da OPEP. Os países latino-americanos exportadores de petróleo, principalmente a Venezuela, ganharam uma oportunidade, em parte desperdiçada, de romper as barreiras do subdesenvolvimento econômico. O governo de Carlos Andrés Pérez nacionalizou o petróleo tardiamente, criando a Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), para aproveitar a conjuntura favorável e implantar um Estado de bem-estar social, estimulando o crescimento da indústria e da agricultura. Mas a supervalorização de sua moeda e a disponibilidade de divisas e de crédito para a importação desestimularam um desenvolvimento econômico independente.
O México saiu-se melhor: a valorização do petróleo deu-lhe a oportunidade de desenvolver as ricas reservas do Golfo do México e recuperar a posição de grande exportador. Seu governo decidiu, porém, permanecer fora da OPEP, embora o petróleo representasse 75% de suas exportações. Sem ter de limitar as exportações, tomou mercado dos árabes e da Venezuela, tornando-se um grande fornecedor dos EUA. Por possuir já uma infraestrutura e uma base industrial significativa, pôde usar as divisas do petróleo para desenvolvê-las, mais do que para importar bens de consumo – ainda que nem sempre da forma mais inteligente, como se viu no caso da energia nuclear.
Energias alternativas
Alguns dos países não exportadores, principalmente Brasil e Argentina, tiveram outro tipo de oportunidade. Para fazer frente ao desequilíbrio de suas balanças comerciais pela inesperada alta de preço do petróleo, procuraram reduzir as importações em geral, tornando-se menos dependentes em vários setores e desenvolvendo indústrias antes inexistentes ou insignificantes. Trataram também de aumentar a racionalidade e a eficiência do consumo de energia, acelerar a construção de hidrelétricas, ampliar sua própria produção de petróleo (o que, no Brasil, implicou o desenvolvimento de tecnologias inéditas para exploração de águas profundas) e desenvolver outras fontes de energia – principalmente gás natural, na Argentina, e álcool, no Brasil.
Na Argentina, o gás natural, presente na matriz energética desde 1949, passou de 17,4% do consumo total de energia, em 1970, para 42% em 1989, e 50%, em 2004. O sucesso da experiência argentina estimularia o uso do gás natural nos países vizinhos e também sua exploração: já em 1972, a Bolívia começou a exportar gás para a Argentina.
No Brasil, o Programa Nacional do Álcool (Proálcool), para substituir parte do petróleo pelo álcool foi iniciado em 1975. Tratava-se inicialmente de misturar até 25% de álcool anidro à gasolina, mas o segundo choque do petróleo, a partir de 1979, viabilizou, pela primeira vez no mundo, a produção em série de carros movidos inteiramente a álcool hidratado. Em 1980, o álcool começou a ser vendido em todos os postos. Em 1985, 96% dos carros novos vendidos usavam esse combustível. Igualmente importante foi o desenvolvimento pela Petrobras de tecnologias mundialmente inéditas para a exploração de petróleo em águas profundas. Essas tecnologias possibilitaram ao Brasil, que no início da crise produzia apenas 15% de suas necessidades de petróleo, atingir uma virtual autossuficiência em 2005.
Também foi despertado o interesse brasileiro pelo gás natural, até então reinjetado, ou simplesmente queimado, na boca dos poços de petróleo, por avaliar-se que sua utilização não seria rentável. Nos anos 1980, seriam construídos gasodutos para conectar as reservas do Nordeste aos grandes consumidores da região (principalmente os novos polos químicos e petroquímicos). Nos grandes centros do Sudeste, as redes de gás canalizado voltaram a se expandir e a substituir o gás de refinaria e o GLP por gás natural. Começou-se a utilizar gás natural em ônibus urbanos (e, na década de 1990, também em táxis) e cogitou-se a importação da Bolívia.
A crise e a busca de saídas
As dificuldades dos países periféricos, porém, foram multiplicadas em fins dos anos 1970 e inícios dos 1980, quando os EUA trataram de recuperar o controle do mercado financeiro mundial. Elevaram os juros e recobraram, através dos juros pagos pelos países devedores, inclusive os membros da OPEP, os dólares gastos com a importação de petróleo. Trataram também de dividir e enfraquecer o cartel, apoiando Saddam Hussein contra a revolução xiita do Irã e estimulando a concorrência entre os países-membros da OPEP. Alguns aumentaram a oferta do produto para obter divisas e pagar sua dívida externa.
A nova conjuntura econômica mundial desequilibrou seriamente as finanças dos países latino-americanos, exportadores de petróleo ou não. Em 1982, México, Brasil e Argentina declararam moratória, da qual saíram muito mais endividados e dependentes e com seus governos incapacitados de continuar a realizar os grandes investimentos, necessários ao desenvolvimento industrial, sem romper com o sistema capitalista. Além de iniciar a então chamada “década perdida” – que na verdade se prolongaria por vinte e cinco anos – a nova conjuntura deu o principal pretexto para a privatização desordenada da infraestrutura estatal, principalmente a de energia elétrica.
O programa de privatização mais importante, promovido nos anos 1980 pela ditadura de Augusto Pinochet no Chile, foi cauteloso, se comparado ao que se veria na década seguinte. As estatais do cobre e do petróleo, por exemplo, continuaram sob controle do governo, apesar de perderem a condição de monopolistas. O setor elétrico, porém, foi privatizado em 1987 e ficou na maior parte sob o comando da holding Enersis. Os lançamentos de ações dessa empresa e de suas subsidiárias e seu retorno inicialmente elevado foram fundamentais também para a privatização da previdência social.
A década neoliberal e as privatizações
No início dos anos 1990, o bloco soviético desapareceu e já quase nada restava da antiga rebeldia entre os países do Terceiro Mundo. Deprimido ainda mais pelo esforço exportador da Rússia pós-soviética, o preço do petróleo entrou em queda livre (situação que só se reverteria em 2005) e o dogma da globalização neoliberal foi aceito pelas plutocracias da maior parte do mundo, seduzidas e unificadas pelo conceito de livre fluxo de capitais.
Segundo a ortodoxia então vigente, o Estado deveria desistir totalmente de intervir na economia, inclusive no setor energético. A energia deveria ser privatizada e a concorrência entre produtores estimulada. Disciplina fiscal, reforma tributária, desregulamentação da economia, liberalização das taxas de juros, taxas de câmbio competitivas, revisão das prioridades dos gastos públicos, maior abertura ao investimento estrangeiro direto e fortalecimento do direito à propriedade eram outros elementos dessa ortodoxia, que em 1989 foi resumida e batizada de Consenso de Washington pelo economista John Williamson, referindo-se ao que ele e seus colegas de instituições financeiras internacionais e centros de estudo baseados em Washington recomendavam para a América Latina. Chegou-se a pensar, principalmente em fins da década de 1990, que a tecnologia permitiria indefinidamente aumentar a oferta e baixar os preços do petróleo e de outros recursos naturais e que uma “nova economia”, baseada na informática e nas telecomunicações, aboliria a geopolítica e a finitude dos recursos naturais e iniciaria um ciclo de crescimento sem limites.
A Argentina, primeiro país latino-americano a promover a produção estatal de petróleo, foi a que mais se apressou a privatizá-lo. O processo, iniciado pelo governo de Carlos Menem em 1989, foi praticamente concluído em 1993. Grande parte das reservas da YPF foi desmembrada e leiloada, o serviço de gás natural, cedido a companhias privadas e o núcleo petrolífero da empresa, absorvido pela espanhola Repsol. O mesmo modelo aplicou-se ao setor federal de energia elétrica que, de 1991 a 1995, foi quase totalmente vendido a empresas privadas, salvo as centrais nucleares e as hidrelétricas binacionais de Yacyretá (partilhada com o Paraguai) e Salto Grande (com o Uruguai).
No México, ainda que o Consenso de Washington fosse aplicado com entusiasmo em outros aspectos (livre-comércio, privatização do setor financeiro, siderurgia, transportes, telecomunicações etc.), a resistência à privatização da energia mostrou-se mais forte. Apesar da crise financeira de 1994 e do fim da hegemonia do Partido da Revolução Institucional (PRI), herdeiro político da estatização promovida por Cárdenas, tanto a Pemex quanto a CFE continuaram sob controle do Estado.
O Brasil mostrou-se um caso intermediário. O governo Fernando Henrique Cardoso não ousou propor a privatização da Petrobras, defendida pelos liberais mais doutrinários: limitou-se a “flexibilizar” seu monopólio, permitir a importação privada de petróleo e colocar em licitação a exploração de possíveis reservas (das quais a Petrobras pôde participar e, muitas vezes, vencer). Embora a Petrobras continuasse a controlar quase toda a oferta, isso reduziu o controle do Estado sobre os preços internos e fez a estatal assumir um comportamento de empresa privada, reajustar preços de acordo com o mercado internacional e buscar oportunidades de investimento em outros países.
Com a queda dos preços internacionais do petróleo, o Proálcool perdeu prioridade: embora o álcool anidro continuasse a ser adicionado à gasolina, a produção de carros a álcool caiu para praticamente zero. A Eletrobrás foi incluída no programa de privatização em 1995 e a maior parte da distribuição foi de fato privatizada. A privatização da geração hidrelétrica, porém, perdeu fôlego depois da venda da Eletrosul e de parte das estatais paulistas. O interesse do setor privado pelo setor ficou abaixo do esperado e esfriou ainda mais com a desvalorização da moeda brasileira.
Sobre o gás natural, cuja importância no Brasil cresceu muito com a construção (iniciada em 1997) do gasoduto Bolívia-Brasil (inaugurado em 1999) e o aumento da exploração das reservas nacionais, a distribuição também foi privatizada, mas a Petrobras continuou a responder pela produção e importação.

- Construção do gasoduto Brasil-Bolívia, no Brasil, em 1999 (Imprensa/Agência Petrobras)
O início do século XXI
Na virada do milênio, a Argentina, país que mais se esmerara em aplicar o Consenso de Washington, entrou em grave crise. A bolha da “nova economia” havia se esvaziado e o mundo começara a perceber que a tecnologia ainda não era capaz de criar recursos naturais onde eles não existissem. Simultaneamente, aumentaram a evidência e a consciência de que o consumo descontrolado de combustíveis fósseis estava afetando o clima de forma grave e praticamente irreversível e de que seria necessário regular e limitar seu uso.
Vários países da América do Sul começaram a afastar-se da ortodoxia, principalmente a Venezuela que, desde o início do primeiro governo de Hugo Chávez, em 1999, passou a frustrar a expectativa das transnacionais e sócios locais interessados na reprivatização do petróleo. A Venezuela, assim, contribuiu para a rearticulação da OPEP, para tirar maior proveito do novo ciclo de alta dos preços, estimulado pelo rápido crescimento da demanda da Ásia (principalmente China e Índia).
No Brasil, a inadequação do modelo de privatização, imposto ao setor de energia elétrica, foi evidenciado pela crise de abastecimento de 2001, chamada de “apagão”, resultante da falta de interesse das transnacionais em investir em geração após a desvalorização do real no início de 1999. Isso impôs um severo racionamento ao consumo, aumentou consideravelmente as tarifas e obrigou o governo a engavetar os planos de tornar o setor cada vez mais concorrencial.
Nos EUA, o neoliberalismo da era Bill Clinton foi sucedido pelo neoconservadorismo da equipe de George W. Bush, intimamente ligada à indústria da energia e com uma aguda consciência de sua importância geopolítica. Desde antes de sua posse, ele planejava controlar o petróleo do Oriente Médio, plano para o qual o ataque às Torres Gêmeas forneceu o pretexto adequado. Os resultados da invasão e ocupação do Iraque, porém, não foram os esperados. A continuação da resistência impede a normalização da exportação iraquiana de petróleo, enquanto aumenta o risco de que o terrorismo desestabilize a Arábia Saudita. Para surpresa de Washington, o golpe de Estado que apoiou em Caracas fracassou, frustrando a expectativa de que a PDVSA voltasse a ser operada por um governo submisso às necessidades dos EUA, ou mesmo privatizada.
Combinadas com a recusa dos EUA a acatar o Protocolo de Kyoto e o rápido aumento do consumo de petróleo na China e Índia, as incertezas criadas pela invasão do Iraque contribuíram para levar o preço da energia a novas alturas a ponto de, em 2004, falar-se de um terceiro choque do petróleo. Mais uma vez, fontes alternativas de energia – incluindo, no Brasil, o álcool e o biodiesel (óleo vegetal como substituto do diesel) – foram de novo incentivadas. Automóveis a álcool ou com motor flexível (capazes de usar tanto álcool quanto gasolina) voltaram a representar uma parte significativa das vendas.
O nacionalismo econômico e as restrições ao capitalismo selvagem também foram reabilitados, até certo ponto, em outros países sul-americanos. No Brasil, o governo Lula freou o processo de privatizações e de desregulamentação da energia elétrica. Na Bolívia, manifestações populares bloquearam um projeto de exportação de gás aos EUA através do Chile, impuseram um forte aumento na tributação das empresas estrangeiras de petróleo e gás que atuam no país (inclusive a Petrobras) e exigiram a nacionalização do setor.
A Argentina, após o fim da conversibilidade, ressentiu-se muito da redução do controle do Estado sobre os serviços públicos, principalmente na área de energia. Empresas de gás e eletricidade suspenderam investimentos, criando o risco de uma crise de energia e abriram processos internacionais contra o governo argentino, procurando equiparar o congelamento de tarifas a uma “expropriação”. Mas, ao aumentar preços sem autorização, Shell e Esso tiveram de enfrentar, em 2005, um boicote convocado pelo próprio presidente argentino Néstor Kirchner, que as obrigou a voltar atrás.
Os problemas comuns de vários dos grandes países sul-americanos com a regulação do mercado de petróleo estimularam as perspectivas de integração – a constituição de uma PetroAmérica como a proposta pela Venezuela, que aliaria à PDVSA as estatais do Brasil, Argentina e Bolívia. Por outro lado, a crise política da Bolívia de junho de 2005, ao ameaçar o fornecimento de gás para o Brasil e a Argentina, também mostrou que a extensão da desigualdade e das injustiças no continente é uma fonte de instabilidade, que poderá limitar as possibilidades de cooperação a longo prazo.
Uma nova guerra pela energia?
A estratégia dos EUA orienta-se no sentido de abandonar as linhas de defesa da Guerra Fria – evacuando ou reduzindo as antigas bases na Alemanha, Japão e Coreia do Sul, que rodeavam o bloco soviético e a China, como anunciou o presidente George W. Bush em agosto de 2004 – para reposicionar suas tropas e instalações em torno das fontes estratégicas de recursos naturais, principalmente o petróleo. No lugar de bases guarnecidas com grandes unidades de combate, o Pentágono busca agora instalar o que chama de “posição operacional avançada”: um posto de facilidades logísticas – pista de pouso ou complexo portuário – mais um arsenal e uma pequena equipe permanente de técnicos militares. Ou, então, uma “posição cooperativa de segurança”, instalações enxutas a serem usadas somente em tempo de crise, sem a presença permanente dos EUA, mantidas por empreiteiros militares e pessoal da nação hospedeira. O acordo militar com o governo paraguaio, de maio de 2005, que aparentemente prepara a instalação de uma base no Chaco, é um exemplo dessa nova estratégia.
As bases permanentes que cercavam o bloco soviético serão substituídas por trampolins próximos dos países que abrigam campos petrolíferos e rotas de suprimento de energia – não só as fontes tradicionais de abastecimento no mundo árabe, mas também as de partes da África e bacia do Cáspio, alternativas possíveis ao petróleo do Golfo Pérsico, que ainda recebem poucos investimentos em exploração devido à sua fragilidade estratégica e instabilidade política.
A partir da função original basicamente estática e dissuasiva – ainda que às vezes usada para apoiar operações clandestinas contra regimes supostamente hostis do Terceiro Mundo –, as Forças Armadas dos EUA passam a ter um papel claramente ofensivo. Nas palavras do documento do Pentágono A Estratégia de Defesa dos EUA , de março de 2005, trata-se de “projetar e sustentar eficazmente nossas forças em ambientes distantes aos quais os adversários podem tentar negar o acesso dos EUA”. Os EUA, porém, não são a única potência a se preocupar com seu abastecimento de energia. A China deverá importar 9,4 milhões de barris em 2025 (o que equivale a 70% das importações dos EUA em 2004). Pequim, procura celebrar acordos de investimento e cooperação com países exportadores de petróleo da América Latina, também se verá compelida a concorrer com Washington na corrida para forjar laços militares com essas nações e oferecer-lhes armas e assessores militares, como já faz no Irã, no Sudão e em ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central. Índia e União Europeia também poderão sentir-se compelidas a entrar nesse jogo. A Guerra Fria ideológica tende a ser sucedida, portanto, por uma disputa de fontes de matérias-primas entre grandes potências nos moldes das disputas que provocaram duas guerras mundiais no século XX.
Mapas

Bibliografia
- CASTRO, Sérgio Corrêa de. Crônica de uma guerra secreta. Rio de Janeiro: Record, 2004.
- CORREA, Anna Maria Martinez. A revoluçã o mexicana (1910-1917). São Paulo: Brasiliense, 1983.
- FAUSTO, Boris; DEVOTO, Fernando J. Brasil e Argentina: um ensaio de história comparada (1850-2002). São Paulo: Editora 34, 2004.
- GUIA DO TERCEIRO MUNDO 1989/90. Rio de Janeiro: Terceiro Mundo, 1990.
- ROTHMAN, Tony. Tudo é relativo. Rio de Janeiro: Difel, 2005.
- SALLUM Jr., Brasilio. Brasil e Argentina Hoje. Bauru: Edusc, 2004.
- CFE, Comisión Federal de Electricidad: http://www.cfe.gob.mx/es/
- ILUMINA, Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético: http://www.ilumina.org.br/
- INVAP – Perfil de la empresa: http://www.invap.net
- __________. Brasil – Petróleo e derivados: distribuição (11/fev/2005).
- __________. Brasil – Gás natural (25/jun/2004).
- __________. Brasil – Energia elétrica: geração (23/set/2004).
- __________. Brasil – Energia elétrica: transmissão (05/out/2004).
- __________. Brasil – Energia elétrica: distribuição (13/out/2004).
- __________. México – Energia elétrica (25/nov/1996).
- __________. México – Produção e refino: petróleo (20/nov/1996).
- __________. Argentina – Energia elétrica (22/jan/1999).
- __________. Argentina – Produção e refino: petróleo (15/abr/1998).
- __________. Chile – Energia elétrica (30/set/1996).
- Petróleos Mexicanos: http://www.pemex.com/