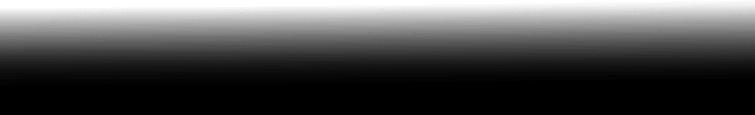Desde 1934, o Código de Águas assegurava ao governo brasileiro o controle sobre as concessionárias de energia elétrica. A criação de empresas estatais de eletricidade começou em 1945, mas foi na década de 1960 que o governo implantou uma estrutura mais completa de controle sobre o setor. O Ministério das Minas e Energia foi criado em 1960, como parte do projeto de desenvolvimento (Plano de Metas) do então presidente Juscelino Kubitschek e, no ano seguinte, foi instituída a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), para controlar outras empresas como a Chesf (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco), Escelsa (Espírito Santo Centrais Elétricas S.A.) e Furnas (Furnas Centrais Elétricas S.A.). A Eletrosul (Eletrosul Centrais Elétricas S.A.) e a Eletronorte (Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.) foram, mais tarde, estabelecidas dentro da estrutura da Eletrobrás. A Light, nacionalizada em 1979, também ficou sob controle da Eletrobrás, mas não a Itaipu Binacional, constituída à parte.
A postura em relação ao setor elétrico mudou a partir de 1990, com o Programa Nacional de Desestatização (PND), iniciado no governo Fernando Collor de Mello. A privatização efetiva teve início com a aprovação da Lei de Concessões (1995), seguida de um decreto que definiu o papel do produtor independente e do autoprodutor de energia elétrica. Mas a regulamentação do setor andou mais devagar que a transmissão de propriedade, e as concessionárias de energia elétrica começaram a ser privatizadas antes da definição de um modelo para o funcionamento do mercado.
Privatização do setor elétrico e Aneel
Em 1995, as empresas controladas pela Eletrobrás foram incluídas no PND pelo governo Fernando Henrique Cardoso, com a intenção de privatizar inteiramente os segmentos de geração e distribuição. Nesse mesmo ano, foi realizado o leilão de privatização da Escelsa.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) foi criada em 1997, em substituição ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), até então o órgão regulador do setor. Além da Aneel, o novo modelo do setor elétrico brasileiro exigiu a constituição de outros órgãos: o ONS (Operador Nacional do Sistema), responsável pela operação do sistema elétrico no país a partir de 1998; o MAE (Mercado Atacadista de Energia), encarregado da comercialização da energia em regime crescentemente concorrencial, a partir de 2000; e o CCPE (Comitê Coordenador da Expansão dos Sistemas Elétricos). A privatização do setor elétrico, entretanto, não correu conforme o planejado. A privatização da geração, na maior parte da Eletrobrás, enfrentou muito mais resistência do que a das concessionárias estaduais de distribuição. A boa situação financeira de empresas como Furnas dificultou ao governo a utilização do argumento de saneamento das contas públicas. Questões de posse estratégica sobre os reservatórios dessas hidrelétricas (e utilização dos rios) também foram levantadas.
Na esfera estadual, as geradoras privatizadas mais importantes foram a Cesp-Tietê (AES Tietê) e Cesp-Paranapanema (Duke Paranapanema), do Estado de São Paulo. Mas entre as subsidiárias de geração da Eletrobrás, depois da Escelsa, só a parte de geração da Eletrosul (chamada Gerasul e vendida à belga Tractebel) foi privatizada.
A expectativa de privatização criou, porém, uma desarticulação do planejamento estatal, ao mesmo tempo que a falta de uma definição detalhada do modelo de funcionamento do mercado moderava o interesse do setor privado e a desvalorização do real, no início de 1999, levava as transnacionais – que pressionavam pela dolarização das tarifas – a suspender os planejados investimentos em termelétricas a gás (salvo aqueles tocados pela Petrobras).
A falta de investimentos, o desleixo na administração das reservas das hidrelétricas estatais e um período de secas reduziram o nível das represas a um patamar perigosamente baixo e geraram uma crise de abastecimento de eletricidade que prejudicou o funcionamento da economia em 2001, aumentou o custo da eletricidade para os usuários (apesar do racionamento forçado, chamado “apagão”) e elevou o tom das críticas à privatização.
Razões do fracasso da privatização
Durante muito tempo, o planejamento do setor elétrico foi responsabilidade do Estado em todo o mundo. A geradora podia ser privada – como era geralmente nos Estados Unidos – mas devia acatar metas de atendimento e preços controlados, de forma que o lucro fosse proporcional aos equipamentos instalados – o que estimulava o investimento. A taxa de retorno dos investimentos em energia não era espetacular, mas garantida.
Em muitos países, isso não foi suficiente. Riscos de instabilidade política, inflação, flutuação do câmbio e vulnerabilidade externa anularam, do ponto de vista privado, a segurança proporcionada pelo consumo cativo. O investidor privado lucrava, mas resistia a fazer os investimentos necessários ao desenvolvimento nacional, principalmente em regiões atrasadas com baixa perspectiva de lucratividade.
No Brasil, como em muitos países europeus e latino-americanos, isso levou à estatização de todo ou da maior parte do setor, ao longo do século XX. Até os EUA consideram excessivas, para o setor privado, as responsabilidades ligadas à gestão das grandes hidrelétricas, mantendo-as sob controle federal. Foi só nos anos 1990 que o governo britânico fez a experiência de privatizar inteiramente não só a gestão como também o planejamento do setor elétrico, substituindo a regulamentação estatal de preços e investimento por um mercado concorrencial. Teve um relativo sucesso, dada a folga de capacidade herdada da administração estatal, o ritmo moderado do crescimento da demanda e a homogeneidade do mercado consumidor.
No Brasil, praticamente 100% da energia chegou a ser fornecida por hidrelétricas, que ainda respondem por pouco menos de 90% da geração. É uma condição privilegiada e incomum: a maioria dos países do mundo depende de centrais termelétricas (a petróleo, a carvão, a gás ou nucleares) e de fontes de energia não renováveis para gerar a maior parte da eletricidade que consomem. Na América Latina, só Venezuela e Paraguai têm um quadro comparável. Comparadas a outras fontes de energia, as hidrelétricas são excelentes para o ambiente e também para a economia, visto que seu custo de geração de energia é, em geral, muito mais baixo do que o das termelétricas – principalmente num país com grandes rios alimentados por chuvas tropicais regulares – e independe das flutuações do preço internacional do petróleo. Isso proporciona ao Brasil e à Venezuela uma importante vantagem comparativa na produção industrial, principalmente em relação a produtos intensivos em energia, tais como alumínio e celulose.
Os responsáveis pela tentativa, do final dos anos 1990, de imitar o modelo britânico no Brasil não consideraram que não se pode esperar que o mercado promova um equilíbrio razoável entre oferta e demanda quando a eficiência está mais ligada ao clima e à geografia do que à tecnologia. O mercado ainda não está plenamente desenvolvido e parte dele necessita de subsídios, o produto não é armazenável nem pode ser importado e a operação envolve responsabilidades colaterais e geralmente pouco lucrativas – controle de cheias, irrigação, navegação, preservação de espécies aquáticas, qualidade da água, pesca e turismo, por exemplo.
Num mercado em que predomina a energia termelétrica, todas as geradoras operam com tecnologia semelhante e têm custos comparáveis. A concorrência parece fazer sentido, ainda que grandes distorções ocorram na prática, como se viu na crise de energia da Califórnia, em 2001: tarifas baixas estimularam o consumo e desestimularam o investimento em manutenção e expansão do sistema, levando a uma brusca escassez facilmente manipulada por atravessadores e especuladores.
Quando a energia hidrelétrica é parte vital do sistema, o mercado é ainda mais inadequado. Não entram novos concorrentes hidrelétricos onde os melhores recursos hidrográficos já foram aproveitados. Sem o risco de concorrência mais eficiente, o gestor privado tem mais interesse em esperar a escassez para poder aumentar as tarifas, em vez de aumentar a oferta, baixar o preço da energia e impulsionar o resto da economia à sua custa.
Nessas condições, a empresa privada interessa-se muito por extrair o lucro garantido da capacidade hidrelétrica já instalada, mas pouco por ampliá-la – e menos ainda por investir em termelétricas. Essas teriam de disputar mercado com colossos hidrelétricos, capazes de fornecer energia por menos de metade do seu custo, a não ser que as tarifas de energia fossem niveladas por alto, em prejuízo do consumidor e da competitividade dos produtos brasileiros.
Situação em 2005
O mercado brasileiro também demanda energia termelétrica: a maior parte do potencial hidrelétrico já foi explorada – salvo na Amazônia onde construir novas grandes usinas é pouco eficiente (pois os centros consumidores estão distantes), representa um complicado problema ambiental e estimularia uma ocupação desordenada da região. Seria desastroso para as indústrias e o consumo do país, porém, cobrar por toda a energia um preço suficientemente alto para incentivar o investimento transnacional em termelétricas.
A experiência da crise de fornecimento deixou clara a inviabilidade de um mercado totalmente concorrencial de eletricidade no Brasil. Passou-se a tentar um modelo baseado em dois ambientes de contratação: o regulado, remunerado por receitas garantidas e estabelecidas por contratos conjuntos licitados pelo grupo das distribuidoras e o livremente negociado, restrito a alguns grandes consumidores e comercializadores. Nesse quadro, é provável que a Eletrobrás continue a ser estatal e responder por uma parte significativa da geração elétrica por muito tempo. Em 2004, respondeu por 28.660 gigawatts, representou 32,4% da capacidade instalada no país e investiu mais de R$ 4 bilhões em geração e transmissão.