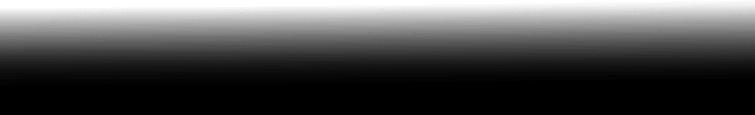A problemática do Estado sempre teve, por razões distintas, particular relevância no debate político e ideológico da América Latina. Alguns aspectos devem ser levados em conta na explicação do fenômeno. Em primeiro lugar, a matriz político-cultural latino-americana é fortemente estatal. As sociedades constituídas como produto da conquista e colonização ibérica sempre atribuíram ao Estado um papel fundamental na vida social. Contrariando o título do livro de grande sucesso nos anos 1980, Bringing the State back in (Trazendo o Estado de volta), a América Latina jamais teve necessidade de trazer de volta o Estado, porque este sempre esteve presente, diferentemente do que ocorreu em outras latitudes. Sociedades como as latino-americanas, que experimentaram a mais prolongada ocupação colonial da história moderna, cujas populações nativas foram dominadas e exterminadas e tiveram suas riquezas repartidas entre os invasores, não poderiam ter incursionado em uma aventura semelhante sem o apoio permanente de um aparato armado, ou seja, sem o Estado em seu “grau zero” e primordial, concebido como o monopólio da força.
A essa constatação inicial devem agregar-se pelo menos outros dois fatores. Em primeiro lugar, o fato de que o padrão de desenvolvimento, a partir da independência e, sobretudo, quando se consolidou uma certa ordem política interior, descansava de maneira exagerada nas capacidades estatais para controlar territórios e submeter populações cada vez mais rebeldes depois de três séculos de dominação colonial. Essa forte presença estatal reforçou-se em meados do século XIX, quando as grandes transformações em curso no Reino Unido, o então coração do sistema capitalista internacional, abriram a oportunidade para ensaiar-se uma estratégia de desenvolvimento orientada para a satisfação da demanda internacional. Mas seu aproveitamento exigiria apoderar-se de terras e minas, afastar as populações nativas, realizar vastos investimentos em infraestrutura e assegurar o que eufemisticamente se denominava “paz interior”. Tal expressão referia-se à estabilização de uma ordem social classista, marcada por profundas desigualdades, que tornasse possível a operação de um modelo no qual se sintetizassem os interesses do capital imperialista e aqueles das distintas frações das classes dominantes locais. Em segundo lugar, a própria debilidade da burguesia nessa parte do mundo agigantou a importância do Estado no processo de acumulação capitalista, transferindo a este grande parte das tarefas que nos países metropolitanos haviam permanecido nas mãos daquela classe. Por esse motivo, foram muitos os autores que assinalaram o caráter estatista ou estadocêntrico do desenvolvimento capitalista na América Latina, tanto em sua fase oligárquico-dependente (que nos países mais avançados da região se estendeu entre 1880 e 1930) como na etapa da industrialização substitutiva e na fase neoliberal subsequente, a partir dos anos 1980 do século XX.
Tudo isso, unido ao peso da Igreja Católica e à gravitação que o pensamento social europeu, especialmente o francês e o alemão, teve na esfera político-cultural, permite entender as razões pelas quais a problemática do Estado sempre ocupou um lugar de destaque na vida dos povos latino-americanos. Seria possível dizer que essa problemática declinou nos últimos tempos? A pergunta remete a um debate atual acerca do futuro do Estado como instituição central das sociedades latino-americanas.
Moda recorrente
Converteu-se em lugar-comum postular como inexorável o desaparecimento do Estado. Não se trata, como em certos textos do passado, de um prognóstico fundado na tese marxista da “extinção do Estado”, e sim de um diagnóstico sobre algo que, segundo alguns teóricos, já está ocorrendo por causa da avassaladora dinâmica desencadeada pelo processo de globalização. De acordo com essa interpretação, os Estados nacionais vão se desagregando, aceleradamente, em um processo irreversível de perda de autonomia, em face aos grandes atores, públicos ou privados, que se movem no cenário internacional. O desfecho desse diagnóstico aponta, nada menos, para a insignificância de qualquer esforço para travar uma batalha emancipadora, tendo como montaria o corcel do Estado nacional.
Trata-se de uma tese profundamente equivocada, mas, antes de fundamentar as razões desse equívoco, convém examinar a forma como a problemática do Estado apareceu no pensamento social da América Latina na segunda metade do século XX. Um olhar atento sobre o tema permite identificar várias etapas em sua evolução. Com efeito, do fim da Segunda Guerra Mundial até o começo dos anos 1960, prevaleceu na região um conjunto de teorias sociais, políticas e econômicas fortemente influenciadas pela ascensão dos Estados Unidos à condição de nova metrópole imperial. Um traço comum a todas elas era a radical negação da importância do Estado, desde a teoria do desenvolvimento por etapas de Walter Rostow até as formulações do estrutural-funcionalismo, principalmente as que brotavam de seu máximo expoente, Talcott Parsons, com sua teoria da modernização do Estado.
A rigor, essas teorizações não refletiam a história real do desenvolvimento capitalista dos Estados Unidos ou da Europa, no qual a presença da instituição estatal fora (como continua a ser nos dias atuais) muito importante. Antes, expressavam as peculiaridades na forma como a classe dominante, em especial a norte-americana, relatava a história do país. Na década de 1960, o influxo ideológico dessas correntes desvaneceu-se consideravelmente. O trabalhoso andaime construído pelas ciências sociais norte-americanas desde o fim da Segunda Guerra Mundial desmoronou por força da luta de classes na Europa, que culminou com os grandes movimentos de 1968, bem como por obra dos impetuosos movimentos em favor dos direitos civis nos Estados Unidos e pela reafirmação dos movimentos de liberação nacional no Terceiro Mundo, aos quais se agregaria, pouco depois, o impacto demolidor da Guerra do Vietnã.
Na América Latina, essa crise teórica se acentuou pela presença da Revolução Cubana e pela progressiva deterioração da situação econômica, social e política dos países de maior desenvolvimento capitalista, uma vez esgotado o ciclo da industrialização substitutiva, o que promoveu o auge das diversas correntes da teoria da dependência. Em suas distintas variantes, que vão desde a obra de Ruy Mauro Marini e Theotônio dos Santos até Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto, passando por Aníbal Quijano, Agustín Cueva e tantos outros, a teorização da dependência tinha como um de seus traços unificadores a relevância atribuída à problemática estatal.
Em meados dos anos 1970, uma nova mudança no paradigma dominante foi precipitada pela crise política generalizada na região – emblematizada pela violenta liquidação da via chilena ao socialismo liderada por Salvador Allende e a Unidade Popular, pelo experimento radical democrático de Juan José Torres e a Assembleia Popular na Bolívia, e pelo sangrento desenlace do retorno do peronismo na Argentina. Nesse caso, tratou-se muito menos de uma derrota no plano das ideias que das consequências do período mais ferozmente repressivo conhecido pela América Latina contemporânea, que levou muitos dos teóricos da dependência e seus seguidores ao exílio, ao cárcere e, em não poucos casos, à morte. Esse inverno cultural perdurou até meados da década de 1980, quando, simultaneamente com o retorno das democracias na região (democracias de baixa intensidade, sem cidadãos nem autogoverno e que não justificavam o nome), apareceu um novo conjunto de ideias. Como as que chegaram em fins da Segunda Guerra Mundial, essas ideias também se caracterizavam pelo menosprezo a tudo o que fosse estatal e, paralelamente, por uma exaltação dos mercados e da sociedade civil como os âmbitos nos quais se refugiava a “verdade” das sociedades latino-americanas. Com o auge do paradigma da globalização, pois esse é o nome sob o qual prospera esse conjunto de ideias, o Estado passou a ser considerado novamente uma inútil relíquia do passado que devia ser piedosamente enterrada.
A sociologia científica
O pós-guerra abriu caminho a uma acelerada profissionalização das ciências sociais. Esse fenômeno, que ocorreu em escala mundial, foi sentido com particular intensidade na América Latina, onde a velha tradição dos pensadores sociais – que fizeram tão brilhantes contribuições para a compreensão de nossas sociedades desde meados do século XIX – foi rapidamente abandonada e, mais ainda, estigmatizada como anticientífica. Desse modo, obras como as de Joaquim Nabuco, no Brasil, José Pedro Varela, no Uruguai, Domingo Faustino Sarmiento e Juan Bautista Alberdi, na Argentina, Francisco Bilbao, no Chile e os chamados “científicos”, no México, passaram a gozar de esquecimento.
Um processo como esse não ocorreu no mesmo momento nem teve a mesma intensidade em todos os países. A profundidade dessa profissionalização, que levou ao nascimento da sociologia científica, principalmente em países como Argentina, Brasil, Chile e México, foi muito diferente de um caso para outro mas, em todos eles, recebeu o padrão da sociologia norte-americana. Enquanto os pensadores sociais eram intelectuais obcecados com a necessidade de interpretar a realidade e, a partir daí, modificá-la (sem que agora convenha analisar o patente europeísmo desse projeto de mudança ou os componentes ilusórios que o animavam), o fervor da nova geração de sociólogos de pós-guerra estava posto no rigor metodológico, na precisão dos dados e na complexidade da análise estatística. As implicações políticas de seu projeto intelectual, se não eram negadas, pelo menos passavam a um discreto segundo plano. Essa mudança afetou os conteúdos da reflexão tanto como as formas de comunicar ideias a um público mais amplo. Os pensadores sociais produziam ensaios e panfletos, escritos em linguagem sóbria e, em alguns casos, elegante. Seu objetivo e seu público eram a classe política e a opinião do povo – segmento social que nessa época abrangia apenas uma pequena porção da sociedade. Seu propósito era persuadir as elites da época da necessidade de acelerar a europeização das sociedades latino-americanas. O ensaio era, nas palavras de Carlos Real de Azúa, um dos estudiosos do tema, “mais comentário que informação, mais interpretação que dados, mais proposição que verificação, mais opinião que afirmação conclusiva”. O certo é que, com estilo, os pensadores sociais atribuíram grande relevância ao estudo e à transformação prática do Estado e da política de seu tempo.
Essa tradição intelectual e política foi expulsa da academia reorganizada nos anos do pós-guerra. A profissionalização da sociologia veio pelas mãos da supremacia incontestada do paradigma estrutural-funcionalista e muito especialmente da versão plasmada na obra do sociólogo norte-americano Talcott Parsons. Suas ideias vieram acompanhadas pelo surgimento de uma metodologia positivista, de perspectiva sumamente estreita, que refletia a adoção, simples e acrítica, do cânone e dos procedimentos daquilo que na época se denominavam ciências duras, terminologia que por boas razões caiu em completo desuso.
Está claro que a difusão da sociologia norte-americana como modelo para as ciências sociais esteve longe de ser um fenômeno regional. Suas teorias, seus métodos e suas estruturas organizacionais prevaleceram em todo o mundo, inclusive na Europa, a pátria da teoria social. Como não podia deixar de ser, sua influência foi avassaladora na América Latina. Em termos teóricos, a expressão mais importante dessa revolução paradigmática, que se estendeu como um rastilho de pólvora, foi a teoria da modernização, que teve seu máximo representante no sociólogo ítalo-argentino Gino Germani.
Uma certa influência também coube a uma expressão muito mais atenuada das novas ideias: trata-se da exercida por José Medina Echevarría, humanista e sociólogo espanhol fortemente influenciado pela obra de Max Weber. Após uma rápida passagem pelo México, onde chegou como refugiado republicano no final da década de 1930, Echevarría contribuiu na fundação do Fondo de Cultura Económica, e finalmente dirigiu-se a Santiago, no Chile, convidado por Raúl Prebisch para trabalhar na Divisão de Assuntos Sociais da CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e Caribe), onde exerceu um papel crucial na criação da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso). Não é por coincidência que nos dois casos deparamos com sociólogos europeus, ambos vítimas das perseguições do fascismo na Itália e na Espanha, que encontraram refúgio na América Latina.
A teoria da modernização
Em sua versão mais dura, a teoria da modernização era cega diante da relevância da política e, muito especialmente, da importância do Estado. A ideia subjacente, que articulava todo o seu discurso teórico, era que as nações em desenvolvimento se encontravam em trânsito pela mesma trilha anteriormente percorrida pelos países industrializados. O desenvolvimento econômico, a modernização social e a democratização política constituíam um triângulo inquebrantável, um processo natural que, embora capaz de ser perturbado por alguns “obstáculos”, concebidos como patologias alheias e externas ao processo histórico, nem por isso deixaria de chegar ao destino. E esse não era outro senão um tipo de sociedade, a chamada sociedade moderna, cujos traços teóricos mostravam, sobretudo no caso de Talcott Parsons, uma assombrosa similitude com algumas das características mais salientes da sociedade norte-americana. O pressuposto, então, era que todas as sociedades desenvolvidas haviam sido, em um momento ou outro, subdesenvolvidas, e que, por esse motivo, todas estavam fadadas a transitar pelo mesmo caminho. Tal como havia assinalado o teórico conservador Samuel Huntington, essa suposição constituía o fundamento axiomático da chamada sociologia científica. Tal fundamento refletia um componente crucial do credo americano, segundo o qual todas as coisas boas vêm juntas. Em função desses pressupostos, podia-se postular que as transições, desde os estágios mais elementares da vida social rumo ao mundo da modernidade e da industrialização, eram um processo unilinear e evolutivo, no qual existiam estreitas margens para a vontade política e a intervenção estatal, para não falar do conflito político. Esse forte determinismo evolucionista induzia a pensar que as sociedades se desenvolveriam naturalmente na direção do sistema industrial graças à difusão universal de valores, crenças e instituições modernas que, produzidas e geradas pelos países do centro capitalista, penetrariam nas mais diversas regiões arcaicas e tradicionais. Esses teóricos estavam dispostos a reconhecer, contudo, a possibilidade de ocorrer tropeços e obstáculos diversos que tornariam mais lento o ritmo da marcha, mas o destino final dessa jornada jamais era posto em questão. Mais ainda, alguns autores sustentavam que até os países governados pelos comunistas contornariam, em algum momento, esse obstáculo e convergiriam com os outros na marcha em direção à sociedade de consumo, ao livre mercado e à democracia liberal.
A teoria da modernização mostrou-se particularmente incapaz de oferecer uma compreensão adequada dos traços histórico-estruturais que diferenciavam as sociedades do centro e da periferia. O pressuposto fundamental dessa teoria, portanto, era irreal e insustentável. Por esse motivo, não tinha resposta para as dilacerantes questões colocadas pelo colonialismo, pelo processo de descolonização e pela persistência do imperialismo como sistema internacional de exploração e opressão.
Uma revisão sumária da literatura da época demonstra que tais questões eram um não problema, um buraco negro teórico pelo qual transcorria a história de 80% da humanidade e para a qual a teoria da modernização não oferecia explicação alguma. Seu otimismo panglossiano era completamente infundado, como o demonstraram as duras lições que os países da América Latina sofreram poucos anos depois. Ainda segundo Germani, de longe o expoente mais sofisticado e realista da teoria da modernização, seria inútil buscar uma reflexão sistemática em torno do Estado, de seus aparelhos e do papel da burocracia estatal. Esse era um arranjo teórico inexistente em sua complexa trama conceitual, apesar de se tratar de um autor com clara percepção dos problemas políticos de seu tempo. Suas análises do populismo latino-americano, especialmente do caso argentino, tinham algumas ressonâncias gramscianas significativas. O mesmo acontecia com sua discussão sobre o fascismo e os regimes autoritários, ainda que essa exploração não implicasse a elaboração de uma teoria do Estado ou sequer um exame das contribuições de outros autores a esse problema. Essa clamorosa ausência justifica a irreparável debilidade da teoria da modernização, incapaz de explicar, e ainda menos de prever, a sucessão de golpes militares e regimes autoritários que se manifestaram com estrépito no cenário latino-americano a partir dos anos 1960. As róseas expectativas da teoria também foram contrariadas com o fracasso dos projetos de desenvolvimento econômico e com a progressiva desintegração das sociedades latino-americanas, resultado das políticas econômicas ortodoxas que potencializaram a exclusão social e a pobreza das massas.
Em resumo, a teoria da modernização desabou sob o peso combinado da perpetuação do subdesenvolvimento, da crescente dependência externa, da crise política permanente e da desintegração da sociedade. Suas promessas e expectativas demonstraram ser simples ilusões, reflexos ideológicos da crescente preponderância que a sociedade norte-americana adquiria no mundo do pós-guerra.
As teorias da dependência
A vingança da história contra uma teoria que se empenhava em negá-la abriu espaço para uma vertiginosa, ainda que breve, tentativa de renovação teórica no campo das ciências sociais e do pensamento político. Junto com a profunda inadequação desse modelo teórico para interpretar e explicar os processos em curso nas sociedades da periferia, a crescente comoção social, política e cultural que estava sacudindo as sociedades do capitalismo avançado em começos da década de 1960, desferiu o golpe de misericórdia no paradigma teórico dominante. O ressurgimento do conflito de classes nas sociedades europeias, o despertar dos afrodescendentes nos Estados Unidos e suas lutas pelos direitos civis, os efeitos devastadores da Guerra do Vietnã no centro hegemônico e a indisfarçável decadência de suas instituições, práticas e lideranças políticas colocaram a sociedade norte-americana sob uma nova luz, evidenciando traços que tinham pouco a ver com as idílicas reconstruções próprias do aparato teórico parsoniano. A obra de C. Wright Mills e Alvin Gouldner, nos Estados Unidos, terminou por demolir esse cambaleante edifício. Na Europa, o livro de Nicos Poulantzas, Clases sociales y poder político en el Estado capitalista ( Poder político e classes sociais , Martins Fontes, 1977), pensando sobretudo em seu impacto sobre a teoria do Estado, constitui uma referência ineludível, cuja influência durante longos anos foi simplesmente avassaladora. Em termos mais gerais, cabe assinalar a importante influência exercida pela ressurreição do pensamento teórico marxista, especialmente na França e na Itália. No primeiro caso, pelas mãos de Louis Althusser e seus discípulos; no segundo, a partir do redescobrimento da obra de Antonio Gramsci.
Enquanto isso, a ofensiva contra a teoria da modernização adquiriu uma eficácia extraordinária na América Latina. A pertinaz negação da problemática do Estado e, mais geralmente, da dimensão política dos processos sociais, foi decisiva para alimentar a revolta teórica contra o paradigma dominante. Mas isso não era apenas reflexo de uma evidente insatisfação teórica: os fortes ventos de transformação social e política que sopravam na região desde o triunfo da Revolução Cubana outorgavam ao debate uma urgência e eficiência políticas desconhecidas desde muito tempo. Para a plêiade de autores que começavam a questionar com rigor o pensamento dominante, a questão do Estado adquiria uma relevância excepcional. Vistas as coisas com o benefício da perspectiva histórica, esse período, que principiou pouco depois de iniciada a década de 1960, seria testemunha de uma inovação intelectual e política poucas vezes verificada, e que ainda surpreende pela escassa atenção que mereceu, tanto entre seus contemporâneos como entre os historiadores da época. Pela primeira vez na história, uma vigorosa reflexão sobre os problemas do Estado moderno e do imperialismo teve lugar na periferia do sistema. Mais ainda, esse trabalho teve força suficiente para reconfigurar, de maneira radical, a própria agenda das ciências sociais no mundo desenvolvido. Se a princípio os patriarcas das ciências sociais do mundo desenvolvido observaram com desdém as diversas teorizações incluídas sob o rótulo comum da teoria da dependência, consideradas por eles como produto do infantilismo revolucionário de intelectuais terceiro-mundistas, sempre inclinados ao abuso de retóricas inflamadas, pouco tempo depois não tiveram outro remédio senão reconhecer que seus colegas do Sul haviam identificado um conjunto de problemas, alguns antigos e outros novos, que eles haviam ignorado por completo. A mesma coisa ocorreu com a obstinação latino-americana em reincorporar às discussões da época a problemática do Estado, que havia sido solenemente desterrada do âmbito acadêmico por David Easton e seus colegas, no início dos anos 1950.
Essa verdadeira contraofensiva ideológica latino-americana foi produto de numerosos intelectuais de primeira grandeza. Sobressaíram nessa empresa os brasileiros Florestan Fernandes, Ruy Mauro Marini, Fernando H. Cardoso, Francisco de Oliveira, Maria da Conceição Tavares, Octavio Ianni, Francisco Weffort, Vania Bambirra e Theotônio dos Santos. Na Argentina, as principais contribuições correram por conta de Guillermo O’Donnell, Pedro Paz, Marcos Kaplan, Silvio Frondizi e Tomás Amadeo Vasconi. Também estão entre os protagonistas de alguns dos momentos mais criativos desses debates: Agustín Cueva, do Equador; Antonio García e Orlando Fals Borda, da Colômbia; Pablo González Casanova, José Luis Ceceña, Sergio de la Peña e Alonso Aguilar, do México; Edelberto Torres-Rivas, da Guatemala; Aníbal Quijano, do Peru; Aníbal Pinto, Enzo Faletto, Julio César Llobet e Hernán Ramírez Necochea, do Chile; Salvador Maza Zabala, José Agustín Silva Michelena e Héctor Malavé, da Venezuela; e Gérard Pierre-Charles, do Haiti. A eles é preciso acrescentar o incansável labor desenvolvido pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (Clacso), de seus grupos de trabalho (GT) dedicados ao tema: o GT sobre Estado e o de Estudos de Dependência, os quais desempenharam um singular papel ao articular as elaborações dos cientistas sociais da região assim como em dar-lhes uma projeção internacional até então desconhecida.
Novas concepções
A revalorização da política e do Estado, como consequência dessa inovação teórica radical produzida na América Latina, cristalizou-se pouco depois em uma nova e mais complexa teorização sobre o Estado. Nela, essa instituição apareceu como:
a) um pacto de dominação, por meio do qual um bloco de classes e grupos sociais que controlam a riqueza, os vínculos com os mercados internacionais e o poder, forjam uma aliança que impõe a modalidade de acumulação que melhor se ajusta a seus interesses particulares;
b) uma arena privilegiada da luta de classes e lugar onde se ajustam as mais importantes contradições sociais;
c) o complexo de aparelhos e instituições, manejado por uma burocracia que, sob certas circunstâncias, desenvolve interesses próprios. Embora não transcendam os marcos da sociedade capitalista, tais interesses podem se contrapor aos de algumas frações particulares do capital;
d) o representante simbólico da unidade da nação, flutuando acima dos interesses das classes e das frações nas quais se divide a sociedade burguesa e assumindo a representação dos interesses gerais da sociedade, tanto na esfera da política interna quanto na arena internacional.
Sob essas novas concepções, o papel do Estado adquiriu uma importância excepcional. Cristalização de uma correlação de forças que estabilizava as condições necessárias para a acumulação do capital, o Estado assumia seu caráter estratégico ao organizar as classes dominantes e fomentar a desorganização das classes dominadas. É desnecessário enfatizar que esses requisitos político-estatais da acumulação capitalista variam segundo as diferentes etapas históricas do capital e conforme sua localização na estrutura internacional do sistema. Não são iguais os que se requerem no núcleo e os demandados na periferia. Em todo caso, se existe algo que ficou suficientemente claro com essa renovação teórica é que o papel do Estado permanece fundamental na preservação das condições necessárias e insubstituíveis de que o capital necessita para se reproduzir e consolidar seu domínio, tanto na fase de desenvolvimento para fora dos capitalismos latino-americanos como na da industrialização substitutiva e na atual, dominada pela internacionalização dos mercados e pela hegemonia financeira na economia, conhecida pelo nome de globalização.
Claro está que essa indispensabilidade do Estado, negada por algumas teorizações de moda, mas de futuro pouco promissor, mal pode ser interpretada a partir de um esquema reducionista que faça dele um simples epifenômeno das leis férreas da acumulação capitalista. Nesse sentido, é impossível deduzir as formas e modalidades do Estado a partir de uma leitura dos processos econômicos de base. Na fase do desenvolvimento para fora, a América Latina teve governos civis, naturalmente oligárquicos, mas surgidos de um jogo institucional baseado no sufrágio restrito, que se assemelhava aos existentes nos países europeus em fins do século XIX. Os casos da Argentina, do Chile e do Uruguai inscrevem-se, em linhas gerais, nessa categoria. Mas, por sua vez, nesse mesmo período, existiam governos autocráticos e ditaduras militares que cumpriam funções similares em outros países.
Nos anos da industrialização substitutiva, também chamados de anos de desenvolvimento para dentro, coexistiram regimes populistas, na Argentina e no Brasil, com formas tradicionais democrático-burguesas no Chile e no Uruguai e experimentos singulares como a Revolução Mexicana. Na fase subsequente, de internacionalização dos mercados e reestruturação reacionária do capitalismo, as formas estatais latino-americanas assumiram, em sua maioria, um rosto profundamente tirânico: as tristemente célebres ditaduras de seguridade nacional. No entanto, nessa mesma época, algumas democracias de baixa intensidade, como a colombiana, a venezuelana e a costa-riquenha sobreviveram enquanto o Estado mexicano se reorganizava para fazer frente aos novos requerimentos do capital. Na fase atual da globalização, predominam por toda parte as pseudodemocracias capitalistas, ou seja, ordens estatais formalmente democráticas, mas cujo democratismo se limita ao mero momento eleitoral, sem nenhum compromisso posterior dos governantes em governar em função do mandato popular. Ainda assim, nada permite supor que as necessidades da acumulação capitalista prescindiriam de qualquer outra forma estatal, autoritária ou despótica, caso os frágeis capitalismos democráticos não consigam conter as explosões de populações cada vez mais insatisfeitas.
A debilitação do Estado
A hegemonia intelectual das correntes renovadoras das ciências sociais latino-americanas teve curto fôlego. Não por motivos teóricos, mas sim em consequência da súbita deterioração das condições políticas e sociais predominantes na região. O golpe militar brasileiro de 1964, ativamente promovido e monitorado pela Casa Branca, inaugurou um período sombrio que alcançou seus níveis mais trágicos na década de 1970, quando o Chile, o Uruguai e a Argentina foram submetidos às mais sanguinárias tiranias de sua história. Acadêmicos e intelectuais, juntamente com ativistas e militantes populares foram perseguidos, encarcerados, torturados e, em muitos casos, “desaparecidos” ou simplesmente massacrados. Os que puderam escapar a tal destino foram para o exílio onde, em muitos casos, o contexto sociopolítico que os recebeu carecia dos estímulos necessários para garantir a continuação de sua obra. Como resultado, produziu-se uma debilitação muito significativa do pensamento crítico e, em pouco tempo, os representantes do paradigma convencional das ciências sociais recuperaram sua primazia. Diante deles, o campo em que antes se encontravam seus adversários estava deserto.
A progressiva substituição das ditaduras por regimes formalmente democráticos não alterou as coisas. O clima neoliberal que se estabeleceu desde os anos 1980 em alguns países, e praticamente em todos na década seguinte, sobreposto ao verdadeiro “epistemicídio” praticado pelas ditaduras, impediu a reconstituição de um pensamento crítico sobre a problemática do Estado e a dependência, precisamente nos momentos em que aumentava extraordinariamente a importância prática de ambas as questões.
O peso das grandes constelações internacionais de poder, com as quais invariavelmente se aliavam as classes dominantes locais, redefiniu a estrutura e as modalidades de funcionamento dos Estados na periferia. Uma de suas consequências foi a debilitação ostensiva destes, em um processo que esteve longe de ser linear. Isso quer dizer debilitação para enfrentar os monopólios, as transnacionais, as frações mais concentradas do capital. Debilidade para introduzir ou sustentar regulamentações nos mercados, ou para adotar políticas que garantissem o fornecimento de bens públicos. Debilidade por aceitar, como se fosse um arrazoado técnico, a independência dos bancos centrais que, na prática, significava ratificar a subordinação absoluta deles ao capital financeiro internacional e seus sócios locais. Porém, convivendo, por outro lado, com a força para impor políticas econômicas draconianas que reconcentraram renda, congelaram salários, privatizaram empresas, serviços públicos e a seguridade social e consagraram a tirania irrestrita dos mercados. Em resumo: impotência para conter o killing instinct da burguesia, tão elogiado pelas teorias neoclássicas, e a prepotência para garantir a submissão e obediência dos explorados. Impotência para os mercados, prepotência para a sociedade civil.
Essa dialética fortalecimento/debilitação dos Estados na periferia coexiste com tendências similares registradas nos capitalismos desenvolvidos. Só que nestes, e principalmente na potência dominante – os Estados Unidos –, o fortalecimento dos aparelhos repressivos do Estado, com ingerência não apenas interna, mas também e, sobretudo, internacional, adquire dimensões absolutamente descomunais.
Que sentido tem falar, como fazem alguns autores, do desaparecimento dos Estados em um momento em que um deles, o centro insubstituível do sistema imperialista mundial, despende por si só a metade de todo o gasto militar do planeta? O que resta do discurso neoliberal que fala da porosidade do Estado, de sua progressiva dissolução no marco de poderes abstratos, construídos graças à globalização no cenário internacional, diante dos quais as velhas criaturas surgidas da paz de Westfália aparecem como inermes relíquias?
Voltando ao caso dos Estados Unidos, que grau de validade pode ter a tese dos teóricos da globalização quando se presencia a acentuada gravitação do Estado, visível na proliferação de controles e regulações de todo tipo sobre a sociedade civil – não sobre os mercados, evidentemente – e expressada de maneira paradigmática no exorbitante incremento do sistema carcerário e da população penal, para não falar da crescente intrusão daquele em áreas associadas à própria essência dos direitos e das liberdades individuais?
O discurso da globalização
Diante de tais evidências, o discurso teórico que se reconstitui no marco das ditaduras da década de 1970 e das chamadas “democracias” dos anos 1980 e 1990 caracteriza-se, à semelhança de sua predecessora – a teoria da modernização –, pela radical subestimação da problemática estatal e da política. O neoliberalismo, ao demonizá-las, terminou por excluí-las das preocupações dos acadêmicos. Na reacionária atmosfera intelectual de fins do século passado, a política – e por extensão seu cenário privilegiado, o Estado – apareciam como ruídos nocivos, que alteravam a calma e fria operação dos mercados.
Para os teóricos adeptos dessa visão, a política potencializa a irracionalidade e as paixões, tudo o que conspira contra a racionalidade e a neutralidade dos cálculos mercantis. A disputa política, estimulada pelas ambições e pela demagogia dos políticos, excita as esperanças e ilusões das massas, perturbando a tranquilidade requerida para o normal funcionamento dos mercados.
Dada a esmagadora hegemonia ideológica adquirida pelo neoliberalismo na região, não parece estranho comprovar que a ciência política que emerge com a redemocratização tenha sido fortemente influenciada por essas ideias. O discurso dessa disciplina revela a mesma “estadofobia” que caracteriza os cultores do pensamento único: porém agora, ao desdém e à desconfiança em relação ao Estado, agrega-se uma argumentação que assegura ser este uma instituição que já está batendo em retirada, que a irresistível globalização dos mercados deu origem a uma nova variedade de capitalismo, um “capitalismo sem fronteiras”, que por sua própria estrutura e dinâmica sanciona a irrelevância prática dos Estados nacionais.
Cabe destacar, pois não se trata de um detalhe secundário, que a antiga soberania exercida por estes, enquanto mandatários e representantes da soberania popular, definha em favor de uma nova soberania assentada sobre os mercados internacionais, as grandes empresas transnacionais e as novas organizações supranacionais. O discurso da globalização, assim como seu antecessor, o da modernização, também resolve, por via axiomática, que o problema do Estado não existe, simplesmente porque se trata de uma instituição que defronta-se com seu irremediável desaparecimento. Será mesmo assim?
Evidências
Uma inspeção quantitativa e qualitativa sobre a saúde dos Estados no mundo contemporâneo, inspirada pelo desejo de examinar à luz da experiência os postulados da ciência política, revela que essa espécie, supostamente em extinção, ainda dá mostras de uma vitalidade invejável. Tal fato era admitido no final do século XX, com uma mescla de amargura e decepção, pela revista conservadora britânica The Economist. Isso porque os dados concretos, em contraposição à retórica dos porta-vozes do livre mercado, são de uma contundência avassaladora. Os antecedentes trazidos por fontes tão insuspeitas de simpatias estatais como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) ou a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) demonstram que desde a década de 1980, precisamente em coincidência com o auge das ideias neoliberais (e não com as práticas de livre-comércio que elas supostamente propõem), a quase totalidade das democracias industrializadas aumentou o gasto público em proporção ao Produto Interno Bruto (PIB). Mais ainda, elas também aumentaram os ingressos tributários, seus déficits fiscais, sua dívida externa e o emprego no setor público.
Essa flagrante incongruência entre os sermões neoliberais, pregados pelos chefes de Estado do mundo desenvolvido e seus ideólogos e publicistas, e as opções concretas de políticas macroeconômicas que eles adotam para seus países deveriam ter profundos efeitos educativos. Tal contradição evidencia o abismo que separa as recomendações dirigidas a um consumo externo – leia-se aos governantes das nações do Terceiro Mundo – daquelas que, com maior sigilo, aplicam-se para o manejo dos assuntos domésticos. Essa contradição permite trazer à luz o papel ideológico do FMI e das chamadas instituições financeiras intergovernamentais, na realidade, simples agências de propaganda e agendas de coação, desenhadas para disciplinar os governos e as sociedades da periferia do sistema.
Devido à extrema vulnerabilidade financeira das economias latino-americanas e, fundamentalmente, pelo peso da dívida externa, as recomendações do Consenso de Washington são servilmente aprendidas e diligentemente obedecidas e aplicadas pelos governantes da região, até mesmo por aqueles que foram eleitos com o mandato explícito de buscar novas alternativas de política econômica.
Uma rápida olhada no dispêndio público dos países do capitalismo avançado demonstra o caráter mitológico do que alguns dos propagandistas do neoliberalismo apresentam como as consequências inelutáveis da globalização. Trata-se aqui da redução do gasto público e do tamanho do funcionalismo estatal. A acreditar em suas prédicas, seria razoável encontrar uma ativa política de desmantelamento do setor público, acompanhada por maciços cortes nos orçamentos fiscais. Tal como reza o discurso oficial, somente esse conjunto de políticas dolorosas, porém fecundas, tornará possível a inserção madura e competitiva das economias periféricas nos aguerridos mercados mundiais, imitando, com algumas décadas de atraso, as opções tomadas pelos países do Grupo dos 7. Um mundo de mercados livres e abertos, com total mobilidade do capital e com um leque sumamente limitado de intervenções estatais não deixa outro caminho. No entanto, quando se concede a palavra aos dados, observam-se comportamentos que nada têm a ver com as recomendações do pensamento único.
Argumento insustentável
Os dados do gráfico abaixo demonstram que, nos capitalismos realmente existentes, o tamanho do Estado, medido pela proporção do gasto público em relação ao PIB, cresceu sistematicamente em todos os países selecionados. Ainda que as cifras, em sua comparabilidade, cheguem até o ano de 1995, todos os indícios isolados, reunidos a posteriori, não fazem senão ratificar a continuidade das tendências observadas no último quarto do século passado.
Gasto público total (1970-1995)
(% do PIB a preços de mercado)
|
1970 |
1980 |
1990 |
1995 |
|
|
Áustria |
39.2 |
48.8 |
49.3 |
52.7 |
|
França |
38.9 |
46.6 |
50.5 |
54.1 |
|
Rep. Fed. da Alemanha |
38.5 |
48.0 |
45.3 |
49.1* |
|
Itália |
34.2 |
41.9 |
53.2 |
53.5 |
|
Japão |
19.4 |
32.6 |
32.3 |
34.9 |
|
Suécia |
43.7 |
61.2 |
60.7 |
69.4 |
|
Reino Unido |
37.3 |
43.2 |
40.3 |
42.5 |
|
Estados Unidos |
31.6 |
33.7 |
36.7 |
36.1 |
* Dados da Alemanha unificada.
Esses dados confirmam, por um lado, que o discurso dominante sobre as vantagens da redução do Estado, apregoadas com tanta empáfia pelos governantes do Primeiro Mundo e seus representantes ideológicos nas ciências sociais, nada tem a ver com a realidade. É simplesmente uma mentira cuidadosamente difundida para facilitar os negócios de suas empresas transnacionais. Por outro lado, comprovam que o ocorrido nos anos 1980 foi uma desaceleração no ritmo de crescimento do gasto público, especialmente quando comparado com os índices registrados nos anos do pós-guerra, mas não uma interrupção e, muito menos, uma redução.
O caso britânico mostra algumas peculiaridades que de maneira alguma conseguem isolá-lo da tendência geral predominante no conjunto dos capitalismos avançados. Apesar da inflamada retórica da primeira-ministra Margaret Thatcher e de seu sucessor, John Major, depois de quase dezoito anos de governos conservadores (1979-1997), a redução relativa do gasto público em relação ao PIB do Reino Unido foi de apenas 0,7%, cifra que qualquer análise rigorosa poderia simplesmente considerar como a margem mínima de erro de qualquer estatística macroeconômica e que fala de modo eloquente acerca do hiato que divide a retórica antiestatal da realidade da política econômica.
Em síntese: o argumento neoliberal é insustentável à luz da experiência e demonstra que em democracias consolidadas, com direitos de cidadania amplamente garantidos há quase um século, as possibilidades de reduzir o gasto público, indispensável suporte financeiro da cidadania, são praticamente nulas. O famoso roll back (redução) do gasto público a seus níveis pré-keynesianos não deixa de ser uma ilusão, pelo menos no mundo desenvolvido; na periferia, em contrapartida, foi praticado com total impunidade às custas da significativa deterioração da qualidade da experiência democrática.
Nos capitalismos avançados, o gasto público, que assegura o fornecimento de uma série de bens públicos fundamentais, converteu-se em uma parte não negociável do contrato social desses países, e nenhuma mudança na correlação eleitoral de forças pode rescindi-lo. Os governos conservadores britânicos não acreditaram que fosse assim e pagaram um alto preço por sua obstinação.
Nos Estados Unidos, o contrato social keynesiano nunca teve a solidez e a extensão conhecidas na Europa. Apesar disso, e à revelia das ameaçadoras promessas eleitorais dos governos republicanos da década de 1980, de Ronald Reagan e George Bush (pai), o certo é que, durante seus mandatos, o gasto público cresceu quase 10%. Essa tendência expansiva verificou-se também em países nos quais a austeridade fiscal é uma regra de ouro, como o Japão, e, com uma tônica muito mais forte, nos países europeus, nos quais o contrato social elaborado nos anos do pós-guerra contempla uma série impressionante de conquistas da cidadania, cuja contrapartida necessária é o gasto público.
Assim, uma olhada sóbria nos dados macroeconômicos produzidos por múltiplas organizações internacionais, revela que na esmagadora maioria das democracias industrializadas o gasto público como proporção do PIB cresceu consideravelmente. Essa tendência foi acompanhada por um maior endividamento público, maiores ingressos tributários e um aumento do emprego público. Em relação a este último, note-se que em meados de 1990 a proporção de empregados públicos sobre a população total era de 7,2% nos Estados Unidos, 8,3% na Alemanha, 8,5% no Reino Unido e 9,7% na França.
Essa gravitação do funcionalismo público contrasta visivelmente com o raquitismo que esse setor social evidencia nas terras da América Latina, onde o neoliberalismo se impôs sem atenuantes. Nessas latitudes, a destruição do Estado, apenas dissimulada sob o eufemismo de reforma do Estado, teve como uma de suas mais lastimáveis consequências o número de empregados públicos equivalente apenas a 3,5% da população no Brasil e a 2,8% na Argentina e no Chile, cifras que ainda não consideram a fase final do processo de desmantelamento estatal levado a cabo nos últimos anos da década de 1990.
Em um continente no qual quase a metade da população carece do fornecimento de água potável, eletricidade e rede de esgoto adequada e onde os hospitais e as escolas públicas são claramente insuficientes, com trabalhadores e profissionais malremunerados e pouco motivados, os publicistas do neoliberalismo não cessam em pregar que o problema da América Latina é que existe demasiado estatismo, que a máquina estatal é excessivamente grande, que há um número exagerado de funcionários públicos e que a única maneira de resolver sua crise consiste em aprofundar ainda mais o desmantelamento do setor público.
Eficácia: questão de tamanho?
Em resumo, o conselho supostamente técnico oferecido pelos ideólogos neoliberais não tem esse caráter. Trata-se, pelo contrário, de uma recomendação eminentemente política, destinada a influenciar as iniciativas tomadas pelos governos da periferia, em favor dos interesses dominantes do sistema.
Como demonstra a experiência das privatizações na América Latina, a liquidação das empresas públicas (vendidas, em todos os casos, a preços muito inferiores aos reais) e o enfraquecimento das capacidades reguladoras dos Estados produziram uma verdadeira avalanche de superlucros, que abarrotaram os cofres das grandes transnacionais, da banca credora e de seus aliados locais. Os números referentes ao orçamento público no centro e na periferia avalizam as palavras de John Williamson, um dos mais sofisticados defensores das políticas neoliberais: “Washington nem sempre pratica o que prega”. Ao que se poderia acrescentar: não apenas Washington, mas também Berlim, Roma, Paris e Tóquio. É precisamente por esse motivo que a já citada revista britânica The Economist concluiu, em um de seus informes especiais, publicado em 1997, que:
o crescimento dos governos das economias avançadas nos últimos 40 anos (1965–2005) tem sido persistente, universal e contraproducente. No Ocidente, o progresso em direção a um governo menor tem sido mais aparente do que real.
O problema dos Estados latino-americanos não é, portanto, seu tamanho, medido pelo número de seus funcionários, nem a magnitude do gasto público em relação ao PIB, e sim o fato de que são débeis, disformes, macrocefálicos, vítimas de uma crônica debilidade financeira e, em geral, profundamente corruptos. Comparados com os Estados de capitalismo avançado, aqueles aparecem como anões monstruosos e viciosos: são quantitativamente pequenos, desproporcionais, ineficientes e corruptos.
O argumento central dos “livre-mercadistas” é que os pendores deficitários do Estado são incontroláveis e conduzem ao caos econômico. No entanto, deixam de assinalar que a deplorável situação das contas fiscais latino-americanas não se originou na desmesura do gasto, e sim na crônica incapacidade dos governos locais em assegurar ingressos suficientes por via de um regime tributário razoável e progressivo.
Contrariamente ao que pregam alguns dos mais fervorosos exegetas neoliberais, o tamanho do Estado na Argentina ou no Brasil, por exemplo – medido pela proporção do gasto público sobre o PIB – é substancialmente menor que o nos países industrializados. Dizer, portanto, que os Estados latino-americanos estão em crise porque são demasiado grandes e gastam mais do que devem – ocultando o fato de que, proporcionalmente, esses países gastam muito menos do que França, Alemanha, Canadá, Estados Unidos e muitos outros gigantes da economia mundial – equivale a faltar com a verdade.
Mais da metade das economias industrializadas destinaram, em 1985, acima de 50% de seu produto bruto ao gasto público, e desde essa época a proporção não diminuiu. Na Argentina, por exemplo, em fins dos anos 1980, o gasto público equivalia a 33% do PIB e, apesar do acúmulo de problemas sociais que permaneceram não resolvidos, em meados dos anos 1990 essa proporção havia decrescido para 26%. Ou seja, o tamanho do Estado argentino está longe de constituir um dado aberrante na economia internacional.
Um estudo recente do Banco Mundial revela que o gasto público nos países de baixos ingressos (entre os quais não se contam países como a Argentina ou o Brasil e sim as empobrecidas nações da África e da Ásia) oscila em torno de 23%, enquanto nas economias industriais de mercado, talvez por sua incontrolável adesão ao populismo econômico, o gasto se situa ao redor de 40%. Na América Latina, o gasto público da Guatemala é de 11,8%; no Gabão, essa cifra mergulha até abismais 3,2%. Na Suécia, em contrapartida, um cálculo que não leva em conta todos os componentes do gasto público revela que essa proporção chega a 55%. Ainda que alguns assegurem que pelo caminho do consistente encolhimento do Estado a América Latina está seguindo em direção ao Primeiro Mundo, será que na realidade ela não está marchando rumo à Guatemala ou ao Gabão?
Está claro que existem matizes nacionais nessa caracterização global, especialmente no tocante à corrupção. Em alguns casos é mais escancarada, ao passo que em outros se preservam certas aparências, mas a caracterização global não muda muito. O problema é que não existe um caminho para o desenvolvimento, capitalista ou não capitalista, que possa prescindir de um Estado forte e bem organizado como um de seus prerrequisitos.
Por forte não se entenda o mesmo que a direita latino-americana sustentou toda a vida: um Estado autoritário ou despótico, sempre disposto a reprimir as classes populares, desmantelar sindicatos, fechar congressos e parlamentos e suprimir todas as liberdades públicas ao mesmo tempo em que desempenha um papel servil em relação às classes dominantes e ao capital imperialista. Forte quer dizer um Estado dotado das capacidades necessárias para disciplinar os mercados e os agentes econômicos e para estabelecer regras de jogo civilizadas para regular as relações que se produzem no âmbito da sociedade civil.
Um Estado desse tipo só é possível a partir de uma sólida legitimidade popular, sem a qual sua fortaleza se dissipa como a névoa matinal. Forte, por exemplo, para dotar de água potável os 1,5 bilhão de pessoas que carecem dela no Terceiro Mundo, e cujas chances de obter esse recurso vital e insubstituível por meio dos mecanismos do mercado são nulas. Quem investiria grandes somas para construir obras de engenharia requeridas para fornecer água potável aos condenados da Terra, que sobrevivem apenas com um ou dois dólares diários, que habitam barracos de papelão em terrenos invadidos, sem nenhum título de propriedade nem domicílio legal, que sequer possuem um documento de identidade, cronicamente desocupados e vítimas de um déficit educativo que decreta sua não empregabilidade na economia contemporânea? Quem, senão um ator emancipado da lógica mercantil, como supostamente deveria ser o Estado, poderia encarregar-se de satisfazer essas demandas?
A questão da reforma do Estado
Depois de todas essas observações, é possível assinalar quais seriam os elementos constitutivos de uma legítima reforma do Estado, diferente da verdadeira contrarreforma que destruiu ou debilitou os Estados latino-americanos no último quarto de século.
Em primeiro lugar, é necessário travar uma batalha sem tréguas para reconstruir, ou refundar, uma ordem estatal, sem a qual não haverá qualquer saída possível para a crise. Tal reconstrução requer a implementação de um conjunto de medidas entre as quais sobressaem-se as seguintes:
a) fortalecimento fiscal do Estado, isto é, ampliação e fortalecimento das bases financeiras sobre as quais repousa o funcionamento dos aparatos estatais;
b) hierarquização do funcionalismo público, satanizado e aviltado no discurso ideológico até agora predominante;
c) realização de uma profunda reforma nas estruturas administrativas e burocráticas do Estado;
d) luta frontal contra a corrupção, potencializada até limites desconhecidos pelo desequilíbrio fenomenal entre mercados e Estado;
e) redefinição de uma nova estratégia – e criação de novos instrumentos – de intervenção do Estado na vida econômica e social, a partir do reconhecimento da ineficácia das velhas modalidades e instrumentos próprios da era keynesiana;
f) melhoramento dos mecanismos de funcionamento estatal, a fim de possibilitar maior transparência e controle dos cidadãos sobre o processo de tomada de decisões. Inovações tais como o orçamento participativo, implementado originariamente na cidade de Porto Alegre, ou a institucionalização do uso dos referendos e a eventual revogação de mandatos, por exemplo, seriam passos importantes nessa direção.
Para que tudo isso seja possível, é preciso avançar sem delongas na reforma tributária. A América Latina não é só o continente com a pior distribuição de ingressos e riquezas do mundo; é também o continente em que a cidadania fiscal, ou seja, a equidade na sustentação financeira do Estado, ainda é uma questão em aberto.
Sem atacar essa pesada herança, que provém da época colonial, não haverá Estado munido das capacidades mínimas necessárias para estar à altura dos desafios atuais. Isso supõe, então, pôr fim ao veto impositivo de que gozam os ricos e as grandes empresas, situação tão escandalosa que até os próprios informes e estudos do Banco Mundial e do FMI não podem deixar de denunciar.
A luta contra esse veto pressupõe um combate contra a evasão e as brechas tributárias, assim como o desenho de uma estrutura impositiva, que abandone a regressividade radical atual e a substitua por um modelo de tributação progressiva. Não é uma meta visionária propor que, num prazo de cinco anos, a estrutura tributária dos países latino-americanos adote parâmetros similares aos registrados nas nações de menor desenvolvimento da União Europeia, como Irlanda ou Portugal. Se isso não ocorre é porque, simplesmente, falta vontade política para fazer com que, nesse mundo globalizado, as empresas europeias, norte-americanas e japonesas paguem impostos semelhantes aos que os aceitam sem reclamar em seus próprios países.
Em segundo lugar, é necessário colocar em marcha uma profunda reforma democrática, que aperfeiçoe radicalmente a qualidade das instituições e práticas democráticas. Nos países latino-americanos, a democracia corre o risco de ser essa “casca vazia” de que falava Nelson Mandela, uma casca vazia na qual cresce uma classe política cada vez mais irresponsável e corrupta, indiferente ante a sorte do conjunto dos cidadãos. Que isso acontece fica demonstrado pela enorme desconfiança popular em relação aos dirigentes políticos, aos partidos e aos parlamentos, um fenômeno que se registra em cada um dos países da região, se bem que com intensidade variável em cada caso. Por esse motivo, torna-se imprescindível emancipar a política dos mercados.
Atualmente, a classe política é financiada pelas empresas e pelos setores de mais recursos. A política converteu-se, nessa era massmidiática, em uma atividade sumamente onerosa, financiada pelos ricos e poderosos. Não é de estranhar que, depois de eleitos, os governantes atuem em proveito exclusivo de seus mandantes e financiadores.
O financiamento público e transparente da vida política constitui, portanto, um dado fundamental do novo ordenamento democrático. O acesso irrestrito aos meios de comunicação de massas é outro pilar de uma democracia aperfeiçoada.
Em O 18 Brumário de Luís Bonaparte, Marx assinalou com agudeza que a burguesia francesa “fez a apoteose da espada; a espada a dominou”. Parafraseando Marx, pode-se dizer que as burguesias latino-americanas fizeram a apoteose dos mercados e os mercados as dominaram (e as dominam). E um Estado que é refém indefeso dos mercados jamais pode ser democrático.
Uma autêntica reforma do Estado exige, por último, a entrada em vigor de novas políticas estatais orientadas para a provisão de um conjunto de bens públicos que, em épocas recentes, sofreram agudos processos de “mercantilização”. Esse, e não outro, foi o caminho percorrido pelas nações europeias no segundo pós-guerra, um caminho que permitiu, em um mundo devastado pelo conflito bélico e cuja legitimidade democrática se achava seriamente deteriorada, a vitoriosa reconstrução da economia e da sociedade civil.
Essas novas políticas públicas, completamente antiéticas em relação às emanadas pelo Consenso de Washington, não apenas se encaminham para a obtenção de um fim nobre em si mesmo, constituem, além disso, uma contribuição fundamental para a reconstrução de uma sólida legitimidade democrática que, por sua vez, é imprescindível para dotar o Estado da fortaleza requerida para disciplinar as forças do mercado, enquadrar as empresas e neutralizar a pressão de outros Estados mais poderosos. Um Estado que recupere a soberania econômica e política perdida, que aperfeiçoe a ordem política e que permita empreender a inadiável reconstrução da sociedade civil.
Conclusões
Desde 1955 o pensamento social latino-americano passou da negação do Estado à sua reivindicação como um problema ao mesmo tempo teórico e prático, e chegou até sua nova negação, no fim do século XX. O abandono do problema pela teoria da modernização, da década de 1950 e início da seguinte, iguala-se à negação que, nos tempos atuais, efetuam as distintas vertentes da teoria da globalização.
A tentativa de reconstrução teórica ensaiada na América Latina na segunda metade dos anos 1960 e começo da década seguinte deve ser retomada para se poder enfrentar com êxito os desafios atuais. Porém, sem um mapa adequado da complexa geografia do Estado contemporâneo será muito difícil, para não dizer impossível, cumprir a tarefa de criar um mundo mais livre, justo e humano que o atual.
Uma boa teorização sobre o Estado, como a que se encontra esboçada em grandes traços na teoria marxista, oferece um ponto de partida de excelentes perspectivas para avançar nesse empreendimento. Uma teoria que descreva e explique o funcionamento do Estado, suas modalidades de intervenção nas mais diversas esferas da vida social, e que identifique seus pontos de quebra e ruptura, de modo a iluminar as vias de sua transformação.
É importante sublinhar que o pensamento socialista se encontra em posições antípodas em relação a algumas concepções fortemente estatistas, fundamentalmente inspiradas na tradição intelectual alemã e, em especial, na obra de Max Weber ou Carl Schmitt.
Para o marxismo, o Estado é um mal necessário e, sempre e sob qualquer modo de produção, um instrumento de dominação de uma classe, ou aliança de classes, sobre as demais. O projeto socialista consiste, essencialmente, na cuidadosa desmontagem desse aparato e em sua substituição por um novo tipo de organização política, orientada a trocar “o domínio dos homens pela administração das coisas”, para usar a conhecida formulação de Engels. Portanto, não há lugar para o estatismo ou para a reivindicação nostálgica do antigo Estado, como se este, o da fase da industrialização substitutiva, não houvesse sido, também ele, um Estado de classe.
O que se requer é uma nova elaboração, a salvo de ambas as atitudes, que possa enfrentar as novidades que o Estado apresenta nessa fase da acumulação capitalista em escala global e que permita identificar sua anatomia e seu funcionamento. A revisão do passado sempre é conveniente, desde que não fiquemos presos a uma época já superada. Em contrapartida, se for tomada como uma plataforma de lançamento de um novo empreendimento teórico e prático, animado por um projeto de transformação social, a releitura daqueles textos dos anos 1960 e começo dos 1970 poderá ser de enorme proveito, não apenas teórico, mas também, e acima de tudo, prático.
Bibliografia
- Boron, Atilio. Estado, capitalismo e democracia na América Latina. São Paulo: Vozes, 1996.
- GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo (Org.). El Estado en América Latina: Teoria y práctica. México: Siglo Veintiunio Editores, 1990.
- KAPLAN, Marcos. El Estado latinoamericano. México: UNAM, 1996.
- OSÓRIO, Jaime. El Estado en el centro de la mundialización. México: Fondo de Cultura Económica, 2004.