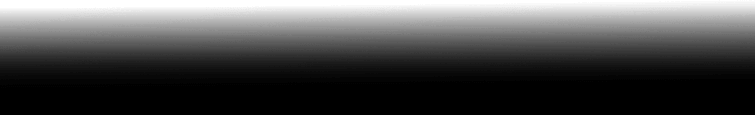Os fenômenos do endividamento da economia nacional em relação à dívida externa – e do Estado em relação aos particulares – na América Latina apresentam-se como um dado recorrente e incontrolável. A história das dívidas no continente articula-se profundamente com a evolução da dívida externa.
O papel determinante da dívida externa é uma das expressões mais características da dependência, refletindo o protagonismo do capital estrangeiro nos processos de acumulação da região. Esse processo decorre tanto dos fundamentos externos das tecnologias que suportam as economias locais, quanto das fontes de crédito, de investimentos e ainda do destino das produções nacionais. Em consequência da dependência, a economia local acha-se submetida a um processo de descapitalização a médio e longo prazo, como contrapartida inexorável à taxa de lucros positiva que o capital internacional aufere de suas transações. Em parte, o processo de descapitalização é financiado por novas entradas de capital, gerando a acumulação da dívida.
A dívida externa, porém, não tem apenas uma dimensão cumulativa. Ela tem uma outra: a cíclica. Os fluxos de capital dos países periféricos se expandem em períodos sucessivos de entrada e saída. Ora entram em grande volume, ora escapam em grandes proporções. Quando prevalecem os ingressos, em função da abundância de capitais, as dívidas se acumulam com taxas de juros relativamente baixas. Quando predominam os egressos, as taxas de juros se elevam em função da escassez de capital para financiar as dívidas acumuladas. Numa fase, o endividamento cresce devido ao aporte de capitais. Na outra, continua a crescer em virtude da expansão dos juros.
A rápida expansão do estoque da dívida, entra, assim, em contradição com a capacidade de pagamento dos devedores, opondo o valor de mercado dos títulos ao seu valor de face, pressionando para a desvalorização do conjunto da dívida. O exercício de uma liderança contra-hegemônica nos países dependentes é fundamental para se alcançar um grau de desvalorização e redução da dívida que a aproxime do seu valor de mercado, seja por meio de negociação, da moratória e suspensão do pagamento, ou por combinação de ambos os processos.
Inversamente, a debilidade das lideranças nacionais e regionais e o seu alinhamento aos interesses do grande capital internacional minimizam a desvalorização e transferem o ônus da insustentabilidade da dívida aos países da região, mediante a desnacionalização e o aprofundamento da superexploração do trabalho.
Das origens do endividamento até 1929
A história das dívidas da América Latina começou na década de 1820, durante os processos de independência da região. Desdobrou-se com o chamado livre-comércio e com as importações de têxteis e artefatos militares. Estas, inicialmente, eram financiadas pelas jazidas de prata e pelos investimentos estrangeiros, sobretudo britânicos.
Para estimular os investidores, os governos desoneraram a exploração mineradora e concentraram os impostos na aduana. O aumento dos gastos militares, no entanto, associado aos processos de independência, provocou uma explosão dos déficits públicos. Estes, originalmente, eram sustentados pelos prestamistas locais e pelos empréstimos internacionais. Entre 1820 e 1825, expandiram-se os empréstimos para a região, os primeiros concedidos a nações republicanas e fora da Europa. A Colômbia, o México e o Brasil imperial passaram a ser os recordistas da emissão de títulos em Londres.
A depressão europeia iniciada em 1826, entretanto, restringiu drasticamente o comércio britânico na América Latina e as entradas de capital no continente sob a forma de investimentos ou empréstimos. Em consequência, a insolvência se generalizou na região. A queda da cotação dos títulos da dívida externa levou o México a buscar comprá-los pelo valor de mercado, defrontando-se com a negativa dos banqueiros. O resultado disso foi a moratória dos países latino-americanos, que durou, dependendo do caso, de quinze a trinta anos. A única exceção foi o Brasil, que manteve o volume de seu comércio exterior e continuou a se beneficiar de empréstimos externos. A renegociação dos termos de pagamento da sua dívida só se faria no contexto do surgimento de um novo período de expansão da economia mundial, no período entre 1850 e 1870.
Na nova fase de expansão da economia mundial foram desenvolvidos três tipos de empréstimos para a América Latina: entre 1850 e 1859, os recursos tinham os objetivos de financiamento e conversão das dívidas antigas, para a suspensão da moratória, com certo grau de desvalorização da dívida, que variou de um país para outro; entre 1860 e 1869, destinaram-se, principalmente, a finalidades militares, para cobrir os custos da Guerra do Paraguai, beneficiando Brasil e Argentina; e, entre 1870 e 1875, foram orientados para obras públicas, particularmente para a construção de ferrovias estatais.
A crise da economia mundial, iniciada em 1873, gerou outro período de egressos dos fluxos de capitais estrangeiros. A contração do mercado internacional restringiu as receitas dos governos, gerando déficits públicos e a suspensão dos serviços da dívida externa. Até 1876, oito países latino-americanos suspenderam o pagamento. O colapso de maior impacto na Europa foi o do Peru. Brasil, Argentina e Chile foram exceções e continuaram pagando os juros e os serviços da sua dívida. A moratória perdurou até meados da década de 1880 e implicou a desnacionalização das ferrovias, como forma de reduzir seus efeitos negativos. Na sequência ocorreu um efêmero boom de empréstimos, sobretudo para Argentina e Uruguai, direcionado para o financiamento de portos, ferrovias e obras públicas. Entre 1886 e 1890, ambos quebraram, o que provocou a desnacionalização de setores estratégicos de suas economias e significativas perdas para os credores. Estes evitaram a desvalorização de parte da dívida, apesar da disposição da Argentina em seguir o receituário das finanças internacionais.
Entre 1904 e 1914, ocorreu outro auge de crédito, destinado basicamente ao financiamento de ferrovias, obras públicas e mineração. A ruptura da fase expansiva, durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), pela primeira vez na história da região deixou de implicar a suspensão dos pagamentos da dívida externa. As únicas exceções foram o Brasil, que suspendeu o pagamento das amortizações, e o México, então envolto em processo revolucionário.
A guerra estimulou a produção exportadora e elevou os superávits comerciais que, somados ao aumento da dívida interna ou, eventualmente, à desvalorização e expansão do crédito, proporcionaram as divisas necessárias para que a região sustentasse o pagamento dos serviços e juros externos. Uma nova crise da economia mundial, entre 1920 e 1921, entretanto, atingiu a região, deteriorando seus termos de troca. Esta acabou contornada pela vinculação crescente da América Latina aos banqueiros de Nova York. Iniciou-se, então, outro auge de crédito, voltado, inicialmente, para o refinanciamento de dívidas e, posteriormente, para a construção da infraestrutura urbana (escolas, hospitais, sistemas de gás e eletricidade) e estradas, além das ferrovias e portos.
A crise de 1929 desatou a mais profunda moratória da história da região. Ela permitiu que a região atravessasse as décadas de 1930 e 1940 impulsionando o seu desenvolvimento e a industrialização por substituição de importações. A moratória durou, na maior parte dos casos, até fins da década de 1940, ensejando renegociações que acarretaram profundos abatimentos no estoque da dívida. O caso mais extremo foi o do México revolucionário, que reduziu os juros e o montante da dívida em 90%. E as exceções foram a Argentina, que perdeu o papel de protagonista no crescimento econômico da região, o Haiti, Honduras, a Nicarágua e a Venezuela.
O período norte-americano e a globalização
Somente a partir de 1952, no contexto da retomada da expansão da economia mundial sob a hegemonia dos Estados Unidos, a América Latina voltou a receber empréstimos. De 1956 a 1961, a região viveu um período de intensos ingressos de capital, liderados pelo investimento direto estrangeiro, direcionado principalmente para a Venezuela – em razão do petróleo – e para o México, o Brasil e, mais limitadamente, a Argentina, em razão da industrialização.
O período entre 1962 e 1967 foi de egressos de capital. Para financiar as saídas, o endividamento externo elevou-se – o que correspondeu à instauração de ditaduras militares no Brasil, em 1964, e na Argentina, em 1966, para garantir a reestruturação de suas economias em harmonia com os interesses das finanças internacionais. Os empréstimos passaram a ser basicamente oficiais – bilaterais e multilaterais – e vinculados, sobretudo os multilaterais, à aceitação de certas condições na política econômica.
Em 1968, iniciou-se um novo período de ingressos de capitais estrangeiros, que coincidiu com o início de uma crise de larga duração nos países centrais que durou de 1967 a 1973. Foi uma crise de sobreacumulação, que deprimiu suas taxas de lucro e se agravou com a crise do petróleo e a reciclagem dos petrodólares em suas finanças. Para aliviar as perdas, grandes volumes de recursos foram desviados para apoiar os projetos desenvolvimentistas da América Latina, favorecendo principalmente Brasil e México, mas também as importações de bens suntuários ou de equipamentos militares, com a consequente fuga de capitais.
O endividamento externo em relação ao PIB saltou de 17% em 1973 para 31% em 1981. A soma dos ingressos de capital via empréstimos superou em quase cinco vezes as entradas, sob a forma de investimentos diretos entre 1971 e 1981. Os empréstimos mudaram de perfil: passaram a ser privados, contratados sem condicionalidades e a taxas de juros negativas, mas flutuantes. A drástica elevação dos juros nos Estados Unidos, iniciada em 1979, inverteu, a partir de 1982, os movimentos de entradas de capitais, acentuando fortemente os egressos e expondo a região aos déficits comerciais contraídos na década de 1970.
A moratória mexicana, em 1982, desatou um ciclo de suspensão dos pagamentos e atrasos nos compromissos das dívidas externas. Os países da região chegaram a ameaçar negociar conjuntamente a dívida. Essa iniciativa tomou forma no Consenso de Cartagena, cidade colombiana em que se reuniram, em 1984, os representantes de onze países da região, responsáveis por 80% das dívidas. O consenso, contudo, não avançou e os países cederam ante a ofensiva dos credores. As moratórias do Brasil, em 1987, e da Argentina, em 1988-1989, foram breves interregnos. Predominou largamente a renegociação conservadora e os atrasos de pagamentos multiplicaram o endividamento, que atingiu o maior patamar histórico: 57% do PIB latino-americano em 1987.
A renegociação das dívidas, então, grosso modo, atravessou quatro fases distintas:
1) A que ocorreu entre a moratória mexicana e o Plano Baker, em 1985, quando os credores assumiram – com o apoio dos governos de seus países, do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Clube de Paris – a coordenação das negociações e impuseram aos devedores a negociação individual, o ajuste estrutural recessivo e a garantia estatal das dívidas privadas. Nos países latino-americanos, a escassez de dólares inaugurou uma brutal expansão da dívida interna como fonte de financiamento dos juros e serviços da dívida externa.
2) A correspondente ao Plano Baker, até setembro de 1987, quando novos empréstimos foram viabilizados, eliminando-se o pagamento de comissões por renegociação, incluindo-se prazos e spreads mais suaves.
3) A referente ao Plano Baker II, entre setembro de 1987 e março de 1989, que incluiu mecanismos voluntários de recompra da dívida com descontos em relação ao valor de face, como forma de abatê-la.
4) E a correspondente ao Plano Brady, que passou a priorizar as estratégias de redução da dívida, vinculando-as às condicionalidades do Consenso de Washington, para enfatizar a livre circulação de capitais e mercadorias, o câmbio apreciado ou flutuante, as privatizações, a reforma do Estado e a elevação dos juros.
Plano Brady e neoliberalização
O Plano Brady, ao contrário das versões I e II do Plano Baker, obteve êxito em seus propósitos de viabilizar a transição para uma nova etapa de ingressos de capitais. Para isso utilizou, como instrumento de barganha, uma renegociação mais política da dívida externa.
Os EUA e o G -7 assumiram a liderança na coordenação das negociações e impuseram as suas condições aos bancos privados: um menu de três opções, que convertia as dívidas em títulos com desconto de seu valor de face, ou dos juros, ou em novos empréstimos, sob condições mais suaves. A contrapartida exigida dos países devedores foi a introdução de reformas macroeconômicas, que inverteram o ajuste para criar déficits comerciais financiados por capitais externos, atraídos por especulação cambial e financeira, privatizações e, secundariamente, por investimentos produtivos.
A dívida foi, então, parcialmente securitizada pelo Tesouro dos Estados Unidos, mediante a combinação de fundos do governo norte-americanos, organismos internacionais e países devedores, e negociada no mercado secundário, atuando como instrumento de privatização de empresas e bancos estatais latino-americanos. Os resultados do Plano Brady favoreceram amplamente os grandes bancos e o capital internacional: o desconto da dívida ficou restrito a um nível aquém do estabelecido pelo mercado, tomaram-se providências para sua revalorização e viabilizou-se um novo período de ingressos de capitais, que voltariam a incrementá-la. Entre 1990 e 1999, a dívida externa da América Latina passou de U$ 467 bilhões para U$ 745 bilhões, saltando de 35% para a 42% do PIB regional entre 1994, quando se encerraram as negociações do Plano Brady, e 1999.
Nesses cinco anos, a dívida interna cresceu de forma significativa, sendo instrumento de atração do capital estrangeiro, fonte de acumulação das chamadas burguesias nacionais e dos fundos de pensão locais. O caso mais expressivo é o do Brasil, em que ambos já estavam mais desenvolvidos.
O Plano Brady começou a dar sinais de esgotamento em 1995, com a crise mexicana – chamada de Efeito Tequila – e em 1998, com os desdobramentos das crises russa e asiática. A crise generalizou-se em 1999, dando lugar a outro período, de saídas rápidas e intensas de capital, com as crises do Brasil – chamada de Crise Caipirinha – e a da Argentina.
A tentativa de conter os desequilíbrios macroeconômicos na América Latina implicaram o desembolso de volumosos pacotes de ajuda ao México, à Argentina e ao Brasil por parte do FMI, que ficou ameaçado de exaustão financeira. Para conter esses desequilíbrios o Consenso de Washington foi reformulado, substituindo-se o câmbio fixo pelo flutuante. O primeiro mantinha uma paridade falsa entre as moedas, e valorizava o dólar. O segundo, passou a impulsionar, sobretudo a partir de 2004, a geração de saldos comerciais e a desvalorização da moeda norte-americana. Esses mecanismos, contudo, são insuficientes para controlar as crises e, nos casos mais agudos, levaram à decretação de moratórias e à imposição de significativas reduções da dívida, como na Argentina de Néstor Kirchner, que forçou a ampliação dos prazos de pagamento da dívida pública para com os atores privados e a desvalorização de seu montante em 75%.