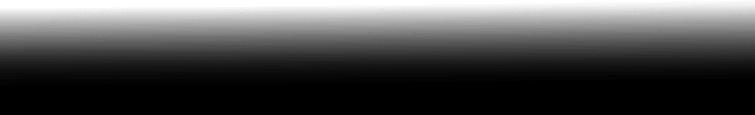A participação da América Latina no PIB mundial, que era de 5,4% em 1950, e chegou a 6,2% em 1980, caiu para 5% em 2000. O continente, portanto, entrou mais pobre no século XXI, com suas exportações mundiais em queda: 10% em 1950, 5,5% em 1980 e 4,9% no ano 2000. O agravamento das desigualdades atingiu de forma ainda mais severa a África, cuja participação nas exportações mundiais, conforme a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), despencou de 4,7% em 1980 para 1,9% em 1996. Apesar do desenvolvimento tecnológico, a questão da pobreza relativa apresenta uma tendência de agravamento: a renda per capita latino-americana, que equivalia a 18% da dos países desenvolvidos em 1980, desceu para 13% em 1998.
Os 33 países que constituem a região (o México ao Norte, doze ao Sul e vinte na América Central e Caribe), além de vários territórios pertencentes ou associados a outros países (EUA, Inglaterra, França e Holanda), têm em comum a necessidade de superar o atraso e, de certa forma, compartilham os problemas de todo o hemisfério Sul, apesar das suas especificidades geográficas, econômicas, sociais e culturais. Todos se constituíram a partir da colonização, predominantemente ibérica, a partir do século XVI, da coerção ao trabalho de seus nativos (servidão) e de negros africanos (escravidão), e, de certa forma, também de trabalhadores asiáticos (coolies), estes principalmente no século XIX. Colonização, servidão e escravidão foram as principais sementes (do mal) dos frutos que a região ainda acolhe: concentração da propriedade, pobreza, exclusão e discriminação social, autoritarismo, dependência e subserviência externa e subdesenvolvimento.
A inserção comercial externa do continente, que até a independência era controlada pelo pacto colonial, foi poderosamente impulsionada pela Inglaterra no século XIX, época em que consolidava a primeira Revolução Industrial. Esta buscava reduzir o custo de reprodução de sua força de trabalho (alimentos) e de sua produção industrial (matérias-primas). O capital inglês apoiou as lutas pela independência, a liberação dos portos, a eliminação do trabalho escravo e a organização da produção em escala, de modo a aumentar a oferta e reduzir os preços dos produtos latino-americanos, ampliando seus mercados. Em graus diferenciados, portanto, todos esses países passaram da subordinação colonial direta a uma fraca soberania política nacional. Com a revolução dos transportes, a partir da década de 1850, a frigorificação de navios, a partir da década de 1870, e as consequentes reduções dos fretes, do tempo de exportação e da perecibilidade dos produtos exportados, alargou-se a inserção da economia latino-americana na mundial, com ênfase para sua produção primária.
Das bases da dependência à “década perdida”
Ao examinar as principais estruturas produtivas primário-exportadoras decorrentes dessa inserção, Celso Furtado deduziu suas três principais implicações econômicas, políticas e sociais:
1) as da agricultura tropical (principalmente no Brasil e Caribe), com terra e trabalho extensivos e pouca tecnologia;
2) as da agricultura temperada (notadamente Argentina , Chile e Uruguai), com uso extensivo da terra, mas com maior tecnificação;
3) as da mineração (principalmente México, Peru, Chile e Bolívia), com uso intensivo de capital e pouco trabalho. Elas influenciaram fortemente as estruturas dos mercados de trabalho, dos salários, da concentração da terra, do papel do Estado, das elites agrárias e do capital externo. Tais estruturas, apesar das mudanças de aparência devidas à industrialização e à urbanização, conservariam uma essência exploradora e excludente. A raiz mais arcaica desse processo, principalmente no Brasil – a agricultura itinerante – continua presente nos dias atuais, travestida de agronegócios.
Enquanto essas estruturas solidificavam-se na América Latina, uma série de fatos sumamente importantes ocorria no restante do planeta:
• o ingresso de alguns poucos países, além da Inglaterra, na industrialização: EUA, Alemanha, França e Japão, com a ampliação da concorrência entre eles e a instauração do imperialismo;
• a submissão de todos os países ao padrão-ouro, que provocou o endividamento e sucessivas crises nos países pobres em geral;
• a iniciação industrial, incipiente, de alguns países latino-americanos, como Argentina, Brasil e México, o que aprofundaria os descompassos de desenvolvimento já em meados do século XIX;
• a superação da Inglaterra pelos EUA que, entre 1870 e 1913, assumiram a liderança do capitalismo mundial;
• o acirramento da concorrência e da concentração de capitais e as disputas interimperialistas que culminariam com a Crise de 1929.
No período compreendido entre o crash da Bolsa de Nova York e o final da década de 1970, os Estados nacionais ainda dispunham de considerável liberdade no manejo da política econômica e vários alteraram o padrão de acumulação, transitando do modelo primário-exportador para o de industrialização. Até 1937, como os países industrializados – notadamente os EUA – estavam muito afetados pela Grande Depressão, dois grupos de países atuaram diferentemente: os da América do Sul (com exceção de Equador e Venezuela) e México, sobretudo este último, e o Brasil agiram rapidamente, praticando políticas efetivas de corte keynesiano e políticas de industrialização; e a maioria dos demais países somente adotou mecanismos protecionistas muito depois, atrasando e debilitando seus processos de industrialização.
Depois disso, os Estados latino-americanos aproveitariam os períodos em que os EUA se veriam obrigados a dar prioridade a outras regiões, para promover a industrialização, sobretudo pela substituição de importações. Isso ocorreu de 1937 até o final da Segunda Guerra Mundial e no período compreendido entre 1947 e 1955 – em que os EUA privilegiaram a reconstrução europeia e japonesa, e tiveram que se prevenir contra as consequências das vitórias do Exército soviético e, mais tarde, de Mao Tsé-tung, na China. A partir daí, a extroversão internacional do capital privado – primeiro dos EUA e depois da Europa e do Japão – fez coincidirem seus interesses com os dos principais países da região, em termos de investimentos diretos e financiamento, facilitando o avanço da etapa chamada “fácil” da industrialização.
Nas décadas de 1960 e de 1970, além da recaída autoritária e de vários golpes de Estado de direita, a região passou a enfrentar dois problemas cruciais: a necessidade de ampliar as exportações e diversificar a estrutura de sua pauta de produtos, dado o crônico problema de financiamento de longo prazo e de balanço de pagamentos; e a necessidade de prosseguir a industrialização. Para tanto, os principais Estados da região assumiram a responsabilidade por importantes investimentos de infraestrutura e criaram indústrias básicas, notadamente para a exportação de insumos básicos e de produtos agroindustriais. Os estreitos limites econômicos internos e as enormes facilidades, naquele momento, oferecidas pelo capital financeiro internacional induziram, entretanto, a um pesado esquema de endividamento externo. O elevado ritmo da produção e do emprego chancelaria politicamente a condução dessa política econômica, que ainda tentaria, entre 1975 e 1977, dar continuidade a esse processo.
Os EUA, que, em 1971, haviam desatrelado o dólar do padrão-ouro, a partir de fins de 1979 elevaram brutalmente sua taxa de juros, causando o maior estrago econômico coletivo de que se tem notícia: quebraram financeiramente quase todos os países subdesenvolvidos e alguns socialistas; fizeram refluir para o seu território imensa massa financeira – principalmente da Alemanha e do Japão – para financiar seus desequilíbrios fiscal e comercial, fortalecendo o então desacreditado dólar; propiciaram a retomada da hegemonia norte-americana, fortalecida à medida que a crise do sistema socialista aumentava.
Dessa forma, “o sonho acabou”. Ou seja, na década de 1980, o continente passou da euforia do elevado crescimento à severidade da crise da dívida externa, com drástica redução dos investimentos públicos e privados e do financiamento externo, com crise estrutural no balanço de pagamentos, medíocre crescimento e elevada inflação. A característica central da década inteira seriam os irrealizáveis acordos com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e as infrutíferas políticas de estabilização. A dívida externa cresceu como bola de neve, duplicando os já altos níveis anteriores, contaminando criticamente as finanças públicas e incapacitando o Estado para o exercício da política econômica. É justo, por isso, chamar essa fase de “década perdida”.
Ajustes e reformas neoliberais
Concluída parte da reestruturação produtiva da terceira Revolução Industrial nos países centrais, ainda na década de 1980, suas empresas transnacionais (ETs) começaram a reestruturar seus sistemas na periferia. Passaram, porém, a se defrontar com Estados Nacionais soberanos, que poderiam dificultar a reorganização. Contavam, entretanto, com um poder maior, o de seus próprios Estados Nacionais ou de blocos, como a Comunidade Econômica Europeia (CEE), por exemplo. Por outro lado, as ETs – principalmente os bancos credores – pleiteavam a “reordenação” financeira dos devedores, o que já vinha sendo feito através das “renegociações” da dívida externa e de algumas liberalizações no sistema financeiro de alguns países. As reformas eram exigidas, de acordo com Braga (1997), também para adequar a periferia aos ditames decorrentes da financeirização da riqueza , fenômeno que se iniciara já ao final dos anos 1960.
Por intermédio das pressões diretas do governo dos EUA, ou indiretas (via FMI/BIRD – Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento), os países centrais impuseram aos devedores políticas neoliberais, transplantando para a periferia o chamado Consenso de Washington. Tais políticas consistiram, resumidamente, na privatização de empresas estatais e nas reformas do Estado, do sistema financeiro, das relações de trabalho e da previdência social, com privatização de ativos públicos, desregulamentação do capital estrangeiro e abertura comercial, causando perversos efeitos estruturais, econômicos e sociais.
O argumento (ideológico) central foi o de que a periferia precisava modernizar-se, rumando em direção ao Primeiro Mundo e abrindo-se à concorrência internacional, para ganhar maior eficiência e competitividade. Ou seja, conforme Cano (1995 e 1996), o imperialismo voltava a atuar, de forma um pouco mais sutil, travestido de “nova modernidade”. A “inevitabilidade” da globalização constituiu, assim, o (falso) lastro político com que muitos governos e elites periféricas aplicaram as novas regras do jogo.
A liberalização comercial, na maioria das vezes, tem representado para os subdesenvolvidos uma queda de braço entre um anão e um gigante (os desenvolvidos). A Inglaterra só propôs a “liberalização” dos mercados a partir da segunda década do século XIX, depois de consolidar sua hegemonia (produtiva, tecnológica, monetária, financeira, comercial, militar e política), ou seja, quando só teria a lucrar com a abertura (e expansão) dos mercados. No último quarto do século XIX, quando os países avançados amadureciam a segunda Revolução Industrial, não necessitavam pedir a abertura de nossos mercados, porque eles simplesmente já estavam abertos. Mesmo naquela época, a abertura dos mercados desenvolvidos sempre foi restrita, controlada e protegida, embora nossa produção não competisse com a deles. Atualmente, a pregação liberal pela abertura comercial convive com o protecionismo dos países, às vezes travestido de intransponíveis “requisitos”, como barreiras formais ou informais, como a restrição “voluntária” ou o convencimento.
São muitos os exemplos de “fechamento” comercial: a carne bovina argentina, durante mais de três décadas, foi proibida de ingressar nos EUA; o suco de laranja brasileiro paga a extorsiva taxa de US$ 450 por tonelada; o aço latino-americano sofre a imposição de cotas; a banana latino-americana, até recentemente, sofria sobretaxa de 25% na CEE se ultrapassasse sua cota.
Não é difícil entender por que os países subdesenvolvidos e, no caso, a América Latina, têm uma participação decrescente no produto mundial. Em virtude da debilitação do Estado Nacional, a periferia voltou a ser um verdadeiro “paraíso” para a ação das empresas transnacionais (ETs), que monopolizam as decisões, notadamente em termos de: onde, quanto, em que e como investir. Em geral, seus investimentos têm sido de porte médio, sem horizonte de longo prazo e majoritariamente dirigidos ao setor de serviços, que não gera exportações.
A reestruturação da periferia compreende não só modificações em suas fábricas preexistentes, mas também a compra de ativos nacionais (públicos ou privados) e a desnacionalização ou o fechamento de fábricas. E vem sendo acompanhada de problemas sérios para os países subdesenvolvidos: obsolescência forçada de equipamentos, desemprego de trabalhadores (qualificados ou não), precarização de contratos de trabalho, grande substituição de insumos nacionais por importados e enorme redução do número de pequenos e médios fornecedores e prestadores de serviços. Em síntese, as reformas neoliberais atendem quase que exclusivamente aos interesses dessas empresas, excluindo do horizonte as possibilidades de crescimento alto e desenvolvimento sustentado.

- Processamento de bananas em fazenda em Guayaquil, no Equador (Divulgação/Porto de San Diego)
Ajustes e reformas estruturais
A partir de 1989-90, além da persistência da crise financeira e do baixo crescimento dos países desenvolvidos (salvo os EUA), o mundo assistiu à implosão do eixo socialista e à substancial queda das taxas de juros. O imperialismo necessitava, portanto, empregar o capital ocioso, e, com esse fim, era preciso “arrumar” a periferia para: 1) concluir as renegociações de suas dívidas, equacionar melhor a situação dos credores e possibilitar novo período de reendividamento; 2) debelar a inflação e reduzir o risco do capital estrangeiro; 3) introduzir as reformas liberalizantes, principalmente abrindo os mercados de bens, serviços e capitais e flexibilizando as relações trabalho/capital.
A periodização das reformas e dos ajustes não é igual para todos os países. O Chile e a Argentina, por exemplo, anteciparam-se. O primeiro fez sua reforma entre 1973 e 1979. A Argentina também fizera sua primeira tentativa neoliberal entre 1976 e 1979. A crise da dívida postergou esses e outros intentos. Embora reformas parciais tenham sido tentadas na década de 1980, foi a partir de 1989-90 que a maior parte dos países latino-americanos implantaram as políticas neoliberais. O processo de reformas, contudo, se contraiu a partir de 2000-2002, de um lado porque as que mais interessavam ao capital privado internacional – privatizações, abertura comercial e financeira – já haviam sido praticamente concluídas, e, de outro, em razão da prolongada estagnação (1999-2003) e dos descontroles cambiais e financeiros, que provocaram sérias crises políticas em vários países. Após 2002, as reformas ainda em processo – salvo a do trabalho e a sindical – podem ser descritas mais como ajustes marginais (principalmente as tributárias) do que como reformas propriamente ditas.
Reformas comerciais, cambiais e financeiras
Os planos de estabilização adotados pela maioria dos países tinham similaridades e diferenças em relação aos aplicados na década anterior. As similaridades eram restrição salarial, monetária e creditícia e juros elevados, além de ajuste fiscal para eliminação do déficit público. A diferença essencial foi o câmbio, que, ao contrário de antes (com desvalorizações para estimular as exportações), foi valorizado, constituindo-se uma alavanca para estimular importações e conter preços. Os cortes de gastos públicos atendiam ao objetivo principal de acomodar a massa crescente de juros internos e externos. Além do câmbio barato, a política anti-inflacionária foi fortalecida com a liberalização do comércio exterior (com diminuição de barreiras administrativas, tarifárias e não tarifárias, barateando ainda mais as importações e, com isso, pressionando para baixo os preços dos produtos similares nacionais – os “transáveis”). Isso tornava dispensável o congelamento ou o controle dos preços.
O novo ajuste não teve o propósito de conter a demanda interna e gerar excedentes exportáveis. A demanda pública, ao contrário, foi contida em função do propósito de reduzir o tamanho e a ação do Estado e alargar o espaço para os crescentes juros; a contenção salarial, usada para diminuir pressões nos custos públicos e privados; a elevação dos juros internos, usada não tanto para conter o investimento privado e sim para atrair capital estrangeiro, imprescindível para financiar o grande aumento das importações e o serviço da dívida externa, agora compulsório pelos acordos de renegociação. Contudo, o receituário neoliberal prometia não só estabilidade, mas também crescimento. Mas, para isso, alegavam, seriam necessárias novas medidas “modernizantes”, que trariam maior eficácia ao setor público e ao privado.
As reformas comerciais e cambiais foram as que mais se generalizaram. Aplicadas desde 1973 no Chile e 1976 na Argentina, graças aos respectivos golpes militares, chegaram ao México e à Bolívia em 1985 e, a partir de 1988, aos demais países. Consistiram em drásticas reduções de tarifas e barreiras às importações (e às exportações), simplificações dos sistemas tarifários, liberalização e unificação de mercados de câmbio, com taxas (fixas em alguns e flutuantes em outros) administradas ou em reduzidas “bandas de variação”. Ainda que a redução tarifária tenha sido acentuada, alguns países – como Chile, México e Argentina – introduziram, em leis ou acordos internacionais, dispositivos protecionistas à agropecuária. Contudo, a cada crise mais severa – por exemplo, Chile e Argentina entre 1981 e 1983, Venezuela em 1994, Argentina e México em 1995, Brasil em 1995-96, 1997 e 1999 –, as liberalizações sofreram algumas suspensões ou retrocessos temporários.
As reformas financeiras também se iniciaram antes – a partir de 1985 no Uruguai, de 1988 no Brasil, na Costa Rica e no Paraguai e de 1989-90 nos demais. Consistiram em introduzir as principais modificações ocorridas no mercado financeiro internacional, como mercados a termo, futuros, de securitização etc.; tornar o Banco Central independente do Poder Executivo, o que não ocorreu em todos os países; reformular as instituições internas (Banco Central, instituições financeiras, Bolsas de Valores), com o objetivo de agilizar as operações financeiras internas e externas, diminuir os encaixes sobre depósitos, liberalizar juros, reduzir o crédito “dirigido” e o subsidiado e promover a internacionalização dos sistemas financeiros nacionais. Só após várias quebras em cada crise, as reformas incluíram, tardiamente, medidas de reforço e algum aprimoramento da fiscalização. As crises recentes tiveram, portanto, alto custo em termos de recursos governamentais alocados em socorro a essas instituições: nos casos do Brasil, da Bolívia e do Paraguai custaram em torno de 5% do PIB, no México , 10%, e, na Venezuela, 13%.

- Pregão da BM&FBovespa em São Paulo, em fevereiro de 2015 (Rafael Matsunaga/Wikimedia Commons)
Controle fiscal e propriedade intelectual
As demais reformas intensificaram-se a partir de 1990, embora uma ou outra tenha sido iniciada antes em alguns países. As tributárias centraram-se na simplificação fiscal, com a redução de gravames ao comércio exterior e a redução de impostos diretos para empresas e pessoas. Foram implementadas com a clara intenção de diminuir a taxação, de modo a atrair investimentos externos diretos e de carteira e manter a regressividade fiscal. Argentina, Brasil, Equador e Peru promulgaram Leis de Responsabilidade Fiscal, criando rígida disciplina orçamentária em todos os níveis de governo. Além dessas, vários governos instituíram Leis de Transparência, tentando com isso combater os desmandos públicos e a corrupção.
Peça fundamental foi a liberalização da entrada e saída de capital estrangeiro, para o que foram funcionais, além das reformas financeiras e de mercado de valores, outras medidas como a assinatura de Leis de Patentes, Leis sobre a Propriedade Intelectual e vários Acordos de Garantia de Investimentos, eliminação (total ou parcial) de restrições setoriais de alocação de investimentos, e outros. As exceções ficaram por conta do Chile e da Colômbia, que criaram alguns controles para a movimentação desses capitais. O Chile praticamente os eliminou após a crise financeira de 1999 e a Colômbia anunciou sua eliminação futura. Os EUA propuseram o Acordo Multilateral de Investimentos, agendado para ser submetido à Organização Europeia de Cooperação e Desenvolvimento (OECD) em abril de 1998, que representaria, para o país que o assinasse, a abdicação de qualquer controle sobre os investimentos externos, concessão de direitos absolutos e privilegiados, não intervenção e, conforme o artigo de Tavares (1998), sustentação jurídica pelas instituições do país investidor.
Encolhimento do Estado e reforma patrimonial
Nas reformas da administração pública, as propostas tinham como alvo o encolhimento do Estado, via privatizações, o fim dos monopólios públicos, descentralização fiscal e de serviços, desregulamentações, desburocratização, transformação, fusão e eliminação de órgãos públicos, tomadas de decisões por “agências”, dispensas de funcionários e redução de seus direitos. O discurso, aqui, foi o da procura de maior “eficácia”, como a (suposta) do mercado. Essas reformas completaram as intenções de coibir a ação do Estado no manejo nacional responsável da política econômica.
A reforma patrimonial do Estado (privatizações de ativos públicos) cresceu após 1989, mas suas metas foram contidas por razões estratégicas, como no caso do cobre chileno – só foi parcialmente privatizado –, que gerava 50% das divisas do país e uma receita parafiscal importante; ou também político-institucionais, no caso do petróleo (como no México, por exigir reforma constitucional e pelo difícil momento político de 1994-97). A mais radical até o momento foi a da Argentina. O acesso a ativos públicos também tem ocorrido via concessões para exploração de serviços públicos, como correios, aeroportos, rodovias, ferrovias, telecomunicações etc. Uma área de interesse crescente tem sido a dos bancos e instituições financeiras, principalmente durante esse tormentoso período de crises financeiras que vem crescendo desde 1994-95. Por várias razões, como as crises políticas, a crise energética no Brasil e o elevado volume de privatizações realizadas até 1999, esse processo praticamente se esgotou a partir de 2001, limitando-se a casos isolados em alguns países.
Um dos problemas sérios que resultaram das privatizações foi o das regulamentações que deveriam ser feitas previamente para reger os monopólios agora privatizados. As regulamentações ex-post – via agências – sofreram forte influência dos novos donos e, em geral, chegaram depois de a porta ter sido “arrombada”. Essas transações, por outro lado, foram realizadas com o apoio de importantes mecanismos para o investidor privado, como o uso de títulos de dívida pública – notadamente da dívida externa – desvalorizados nos mercados, mas aceitos pelo valor de face ou com algum desconto, o que representou enormes ganhos adicionais para os compradores.
A maior parte das transferências patrimoniais, por outro lado, foram feitas a “preços de ocasião”, desmentindo o falso discurso de que o Estado “necessitava desses recursos para saldar suas dívidas”. Não raro, o Estado aumentou as tarifas e preços públicos dessas empresas, além de nelas realizar importantes investimentos, antes de formalizar a privatização, aumentando-lhes potencialmente os lucros. Muitas, mesmo assim, pioraram o serviço prestado e algumas tiveram de ser reincorporadas ao acervo público (como as rodovias mexicanas). Em que pese o valor médio apurado com as privatizações entre 1990 e 2001 – algo em torno de 1,4% do PIB acumulado no período –, isso está muito aquém do volume dos juros da dívida pública (interna e externa) e, portanto, aquele argumento não se sustenta. Contudo, representou parcela importante do investimento direto estrangeiro, tendo sido, no total acumulado entre 1988 e 1995, de 45% na Argentina, 80% no Peru e 31% na Venezuela. Entre 1990 e 2001, o total das privatizações na América Latina atingiu o valor aproximado equivalente a US$ 185 bilhões, conforme a CEPAL.
Reforma previdenciária e trabalhista
A reforma da Previdência tem como base o pressuposto de que os sistemas preexistentes (de repartição) teriam se tornado inviáveis, com déficit crescente, onerando o orçamento público e aumentando a incerteza sobre sua capacidade de pagamento dos beneficiários a longo prazo. Incluem-se no campo dessas reformas a instituição (ou alterações) do seguro-desemprego. As propostas – pensões e invalidez – caminham na direção da substituição do sistema de repartição para um exclusivo de capitalização, no Chile, ou um misto, na Argentina e Colômbia, por exemplo. Evidentemente, entre seus objetivos, encontram-se também os de “homogeneização” de benefícios e de critérios, além de sua privatização, embora sob tutela do Estado. Seus efeitos concretos, no entanto, ultrapassam os de diminuir ou retirar direitos de trabalhadores públicos e privados.
A despeito da legião de entusiastas do sistema de capitalização, este é muito complexo e comporta riscos. Para o seu sucesso, é necessária uma boa dinâmica de crescimento de longo prazo da economia, para que – em tese – as empresas beneficiadas pelos investimentos dos chamados Fundos de Pensão apresentem rentabilidade “normal” a longo prazo, e que os títulos públicos por eles adquiridos tenham também liquidez e rentabilidade. Isso, entretanto, não basta, uma vez que esse sistema também exige crescente incorporação de novos contribuintes, isto é, de novos trabalhadores formais. Para que o trabalhador, ao final de sua vida contributiva, tenha uma pensão de valor igual ao seu salário de contribuição, este terá que crescer em termos reais. Não são essas, contudo, as perspectivas projetadas no horizonte latino-americano, que tem apresentado crescimento baixo, alto desemprego, queda dos salários reais e crescente precarização e informalização do trabalho. A experiência chilena é recente para ser tomada como parâmetro, tanto para os períodos de alta rentabilidade dos Fundos (nos anos de alto crescimento e alta rentabilidade privada) como nos anos ruins (crise, recessão etc.), que podem – como nos sistemas públicos – apresentar temerários déficits. A propósito, Uthof mostra a necessidade de um aumento anual real dos salários de 1,5% e de 1,7% na taxa de emprego para a estabilidade do sistema na América Latina.
As reformas das relações de trabalho (contrato de trabalho e relações sindicais) iniciaram-se em 1990 – salvo no Chile, que as iniciou em 1981 – e têm como fundamento o rebaixamento dos custos laborais (redução de jornada com redução de salário), de encargos trabalhistas, do custo de dispensa – que foi realizada no maior número de países –, quebra de estabilidade e flexibilização legal para contratos temporários. É compreensível que a resistência política a esse tipo de reforma seja maior nos mais diferentes países, e talvez seja por isso que seu processo tem sido demorado e gradual. É de se lamentar o conteúdo claramente ideológico e oportunista de governos, empresários e lideranças sindicais de direita, ao afirmarem que com a legalização dos contratos temporários de trabalho o emprego aumenta. A realidade é que essas mudanças resultam em uma precarização ainda maior do mercado de trabalho, com salários menores, perda de direitos e tempo de trabalho diminuído. A Venezuela destoa da maior parte do continente nesse quesito, uma vez que introduziu em sua Constituição a universalização da seguridade social e ampliou as garantias dos direitos dos trabalhadores.
Juros e metas de inflação
A espiral inflacionária fez com que os preços ao consumidor crescessem 364% em 1988 na América Latina, passando a 1.680% em 1990. A partir de 1991 foram implantadas, com êxito, políticas de estabilização. Nesse ano, a elevação dos preços caiu para 199%, com o programa da Argentina. Eles voltaram a subir, atingindo 877% em 1993, e a cair, chegando a 26% em 1995, com o programa brasileiro. A partir daí a inflação anual tem oscilado em torno de 10%. A maioria dos atuais processos de estabilização, contudo, não contorna a armadilha representada pela sustentação baseada na valorização cambial e se sobressalta com as crises de balanço de pagamentos ou com os ataques especulativos. Essa instabilidade implícita resultou nas crises explícitas do México (1995-97 e 1998-2000), Venezuela (1993-99 e 2002-04), Equador (1994-2000) e Brasil (2001-03). Os principais mecanismos utilizados nesses programas foram (e muitos ainda seguem sendo):
1) Juros reais elevados, muito acima do mercado internacional. Depois de pequena baixa, entre 1991 e 1994, as crises imprimiram nova tendência altista em 1994-97 e 1998-2003;
2) Drástico controle da expansão da moeda e do crédito. Entretanto, o alto volume de entrada de capital estrangeiro até 2000 implicou forte aumento da liquidez real, aumentando o crédito privado e anulando parte dos efeitos da política monetária. Contudo, o crédito interno no sistema bancário continua fortemente constrangido em vários países;
3) Câmbio valorizado: considerando como igual a 100 a média de 1987-90, no cálculo de Uthoff (1997), teríamos taxas de câmbio reais efetivas (para exportação), em 1997, de 51 para o Peru, 55 para o Brasil, 70 para a Argentina, 72 para a Colômbia, 83 para o Chile e 85 para o México (graças à desvalorização de 1995, com a crise). Contudo, a crise de 1999 obrigou a fortes desvalorizações em vários países. Em termos médios regionais, o câmbio real efetivo continuou crescendo, até meados de 2003;
4) Orçamento fiscal: poucos países aumentaram as receitas em proporção ao PIB e vários cortaram gastos – notadamente em pessoal, social e investimentos –, resultando em diminuição acentuada dos déficits. Confrontando os déficits observados durante a década de 1980 e os primeiros anos da de 1990, eles caíram muito. Mas a partir de 1994-95, dos dezenove países que informaram suas contas, o déficit voltou a crescer em treze, e, em 1998-99, todos voltaram a ser deficitários, crescendo a relação dívida pública/PIB, que passou de 37% em 1997 a 56,3% em 2003. O efeito conjugado dessas medidas atingiu seus objetivos: juros elevados atraíram o capital externo e o câmbio valorizado estimulou fortemente as importações, ancorando os preços internos;
5) Pelos cânones da nova “ciência monetária”, acabou se disseminando por vários países a instituição de metas de inflação. Isso vem se constituindo uma verdadeira camisa de força da política econômica, reduzindo o crescimento e restringindo os demais parâmetros da moeda e do crédito.
Balanços das contas e dívida externa
A participação da América Latina nas exportações mundiais, que caíra para 4,5% em 1990, voltou à casa dos 5% a 6% até a metade da primeira década dos anos 2000. Graças às crises, em alguns países, e melhoria de preços de exportação, em outros, as exportações cresceram, entre 1990 e 1999, à taxa média anual de 9,1%, mas as importações atingiram 12,6% (15,8% em 1990-97), alterando radicalmente o sinal da balança comercial de quase toda a região. A principal fonte do desequilíbrio foi o colossal aumento das exportações dos EUA para a América Latina, que passaram de US$ 35 bilhões em 1987 para US$ 191 bilhões em 1998. Em 1998-99, o ímpeto importador foi em parte contido pela recessão e pelas desvalorizações, mas em 2000 o desequilíbrio retornaria em vários países.
Para o conjunto dos vinte principais países capitalistas latino-americanos, o déficit acumulado em transações correntes, entre 1989 e 2001, somou US$ 550 bilhões – cerca de 2,9% do PIB acumulado no período –, enquanto a dívida externa saltou de US$ 453 bilhões para US$ 724 bilhões; as exportações cresceram 164%, mas as importações aumentaram 240%. No mesmo período, no Brasil, por exemplo, o PIB cresceu 26,4%, as importações elevaram-se em 203% e as exportações, em apenas 69%. O déficit em transações correntes acumulou US$ 177 bilhões.
Entre 1999 e 2004, novas crises e desvalorizações atingiram Brasil e Argentina e reverteram o quadro, aumentando exportações e reduzindo drasticamente as importações. Porém, as exportações tiveram excepcional expansão, não só graças a esses fatores, mas também, principalmente, pela notável expansão da demanda da China, que beneficiou fortemente Argentina, Brasil, Chile e Peru, enquanto a concorrência a seus produtos no mercado dos EUA prejudicava as exportações do México e da América Central. Contudo, embora a relação juros da dívida externa/exportações de bens e serviços tenha, em termos médios, baixado de 21,6% em 1991 para 12,7% em 2002, ela se manteve em patamares mais elevados para Argentina (29,3%) e Brasil (21,1%), e girou em torno de 14% para Colômbia, Equador, Nicarágua e Peru. Assim, o déficit do balanço em transações correntes (em US$ bilhões) passou de 9 em 1989 para 47,7 em 1994, ocasionando a quebra do México e o abalo na Argentina, que participavam, respectivamente, com 62% e 20% daquele valor. Em 1995 e 1996, com a crise mexicana e argentina e com a valorização do real brasileiro – com a consequente desvalorização da moeda argentina ante o câmbio brasileiro – aquele valor recuou para 32,2 e 35,5 nesses anos, mas com um novo país quebrado, o Brasil, cujo saldo passou de um valor positivo de 1,6 em 1989 para os negativos de 18,0 em 1995, 24,3 em 1996, 33,4 em 1997 e 33,0 em 1998, rombo que só diminuiu a partir da desvalorização de 1999 e da crise que se estendeu até 2003.
Integração continental e novas perspectivas
Como o México, em 1994, passou a fazer parte do Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (NAFTA), com os EUA e o Canadá, é necessário analisar separadamente o comércio latino-americano, incluindo e excluindo o país. Assim, entre 1995 e 2003, as exportações mexicanas cresceram 107% e suas importações 135%, enquanto para o conjunto da América Latina, excluindo o México, as exportações cresceram apenas 40% e as importações – fortemente afetadas pelas crises de 1997 e 1999-2003 –, 16%. Considerando, entretanto, o período 1997-2003, as exportações e as importações cresceram, respectivamente, para o México, 49% e 55%, enquanto para o continente (sem o México) as cifras foram de 19% e -14%. Ao analisar as relações “de risco”, como a dívida externa bruta/exportações, constata-se uma “substancial” melhora: para o restante da América Latina e para o México, ela passou, respectivamente, de 4 e 2,6 em 1990 para 3,7 e 1 em 1999 e 2,8 e 0,8 em 2003.
Com a criação do Mercosul, as vendas intrabloco cresceram substancialmente, passando, em US$ bilhões, de 4 para 20 entre 1990 e 1998. Elas cairiam com a crise, só se recuperando em 2004. O Mercosul padece de problemas sérios para a continuidade e o aprofundamento da integração entre os países-membros (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) e associados (Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela), dada sua heterogeneidade interna em termos estruturais (produção, renda, fiscalidade, salários etc.), que dificulta a evolução para uma associação do tipo mercado comum. Cada crise ou (des)valorização cambial na Argentina ou no Brasil gera fortes variações, para mais ou para menos, nos seus fluxos e no sentido de seus saldos, mostrando a fragilidade do bloco. A expansão das trocas internas tem sido incapaz de saltar a barreira de 20% a 25% do volume total exportado por seus membros, que continuam a ter no resto do mundo mercado para cerca de 80% de suas exportações.
No início dos anos 2000, apenas 23% das exportações do Mercosul tinham como destino países latino-americanos; se excluído o México, essa participação caía para 22%. Sem considerar novamente o México, apenas 14,5% das exportações do continente eram intracontinentais. As dificuldades para maior integração da América Latina são conhecidas, mas alguns fatos políticos têm ampliado os mercados e gerado muitas esperanças. A mudança acentuada da política externa brasileira a partir de 2003, negociando de forma vigorosa com China, Índia, Rússia, Comunidade Sul-Africana, vários países árabes e, sobretudo, com a América do Sul, produziu resultados, contrapondo a proposta de uma Associação Sul-Americana de Livre-Comércio (Amercosul) aos interesses norte-americanos em torno da Associação de Livre-Comércio das Américas (ALCA).
A sangria financeira externa (transferência líquida de recursos) acumulou um valor negativo de US$ 195 bilhões entre 1980 e 1991. Torna-se positiva, não só por causa das desregulamentações, mas principalmente pelas enormes possibilidades de ganho fácil de privatizações, desnacionalizações e especulações nos mercados de valores: em 1992-93, passou da média anual (em US$ bilhões) de 29, caiu para 15 na crise 1994-95, subiu para 25 entre 1996-98, tornou-se negativa (-1) em 1999-2000, despencando para -36 em 2002-03, com os desastres da Argentina, do Brasil e da Venezuela.
A aposta (equivocada) nos ajustes consiste exatamente nisso: bancar, durante alguns anos, com fortes entradas de capitais, o rombo da conta de transações correntes e das amortizações da dívida. Isso foi facilitado pela desregulamentação dos fluxos de capital estrangeiro, mas padece de vários problemas sérios, de volatilidade e instabilidade – que podem surgir a qualquer momento nos países de origem ou de destino – decorrentes de movimentos cíclicos bruscos ou especulativos, que causam fugas imprevistas e problemáticas. Por outro lado, podem causar sérios problemas na condução da política econômica, em termos de rupturas de esquemas de financiamento, variações abruptas nas taxas de câmbio e de juros etc. Além disso, a desregulamentação impede qualquer controle sobre a alocação setorial (produtiva ou financeira) ou regional do capital, sobre seu tempo de permanência, ou sobre a estrutura da aplicação (carteira, investimento produtivo etc.).
Por outro lado, grande parte dos investimentos aqui realizados no período pós-reformas era vinculado a operações com dívida externa, privatizações e transferência privada de propriedades, aumentando o grau de desnacionalização da economia e pouco significando em termos de aumento de capacidade produtiva. Muitos, nos esquemas de privatização, vincularam-se a setores produtivos de serviços (bancos, telecomunicações etc.), que, em geral, não geram exportações, mas remetem juros e lucros. A grande exceção tem sido o México – com investimentos predominantes na indústria, devido a seu ingresso no NAFTA – e alguns países dotados de recursos minerais, que têm recebido investimentos em mineração e petróleo.
Esse quadro, para a região, implica abdicar da própria soberania na fixação dos rumos de crescimento e transformação. Muitos desses investimentos subordinam outros – muitas vezes públicos – de apoio logístico (infraestrutura, por exemplo) a eles. Além disso, para se instalar num país as ETs têm feito verdadeiros leilões de localização, cujo prêmio para elas é um formidável conjunto de incentivos – principalmente tributários, financeiros e infraestruturais –, cujo valor muitas vezes supera o próprio montante do investimento originário; ao setor público do país recipiente, isso adiciona mais alguns buracos nas contas públicas e cortes nos gastos.
Antes dessas reformas, na maioria dos países os projetos de investimento (públicos ou privados) eram analisados apenas por seus efeitos diretos e indiretos sobre o emprego, o balanço de pagamentos, o uso de insumos e equipamentos nacionais e a geração de impostos. Hoje constatam-se os efeitos negativos dessa prática: os países passaram a importar muito mais insumos e bens de capital do que antes, as cadeias de produção nacional foram desestruturadas, os empregos criados são mínimos e os impostos gerados, em grande parte, são devolvidos como incentivos à inversão.
O coeficiente de inversão bruta fixa, a despeito dos elevados déficits em transações correntes – a “poupança do exterior” – e do financiamento externo, jamais recuperou a média de 27,6% verificada em 1980, oscilando durante a “década perdida” em torno de 19%; subiu a 19,5% em 1991-93, permanecendo em torno dessa cifra até o início dos anos 2000. Após 1989, apenas o Chile, dentre os principais países da região, apresentou média anual pouco maior do que a da década de 1980.
As principais razões desse fraco desempenho são: os elevados juros internos que a maioria dos países pratica; a própria dinâmica do atual modelo, que é de baixo crescimento médio e intrinsecamente importador; a drástica redução do investimento público, que com isso diminui seus efeitos emuladores do investimento privado e a dinâmica de crescimento setorial da economia, mais centrada em agricultura e serviços (com menor exigência de capital) do que na produção de bens.
Examinada o investimento bruto fixo em seus dois componentes principais (construção e máquinas e equipamentos), as séries a preços constantes de 1995 mostram que o item construção vem aumentando sua participação no investimento total: de 49% em 1980, subiu para 58% em 1990, oscilando em torno de 60% entre 1990 e 2002, com isso reduzindo fortemente o item máquinas e equipamentos. O Brasil parece ser um dos casos mais graves, pois esse item, que pesava cerca de 53% do total em 1980, caiu para 36% em 1990, oscilando entre esse ano e 2002 em torno de 26%. Contudo, esses dados se revestem de grande complexidade analítica, pois, dadas as profundas alterações nos preços relativos, as séries mostram distintos resultados, se a preços constantes ou correntes, mas não invertem a tendência observada, que é muito preocupante, mostrando o assustador debilitamento da principal variável que acresce a capacidade produtiva do país. O comportamento da poupança e da inversão bruta mostram a redução da poupança nacional – não compensada pela alta da poupança externa – e a queda da taxa de investimento. Ou seja, durante quase todos esses anos, na maioria dos países, foi mais o consumo – e secundariamente as exportações – do que o investimento que impulsionou as taxas de crescimento.
O PIB regional, que na década de 1980 crescera à taxa média anual de cerca de 1,1%, entre 1989 e 2003 o fez à de 2,46%, taxa muito baixa, tendo em conta os níveis do crescimento da população total (1,65%), da PEA (2,63%) e a taxa de desemprego urbano aberto (em torno de 10,5% no período 1999-2003).
PIB real por habitante (1980 = 100)
|
1985 |
1990 |
1995 |
2003 |
|
|
América Latina |
92,8 |
91,5 |
97,9 |
102,2 |
|
Argentina |
86,3 |
80,5 |
99,4 |
94,7 |
|
Brasil |
95,8 |
96,0 |
103,7 |
106,8 |
|
Chile |
91,7 |
114,7 |
153,8 |
138,3 |
|
México |
98,3 |
97,6 |
96,1 |
113,1 |
|
Venezuela |
72,0 |
72,0 |
77,0 |
71,0 |
Fonte: CEPAL.
Em termos do PIB por habitante, a taxa média regional, entre 1980 e 1989, foi de -0,8% e, entre 1989-2003, de medíocres 0,8%: ou seja, foram necessários 23 anos para retornar a um nível absoluto apenas 2,2% acima do de 1980. Mas essa pequena melhora esconde diferenças substanciais entre alguns países: enquanto o PIB do Chile era 38,3% maior do que o de 1980 e o do México 13,1%, o da Argentina era 5,3% inferior, e o da Venezuela, 29% inferior. Ela esconde ainda o principal: a existência de movimentos cíclicos que impedem a ocorrência de altas taxas de crescimento persistentes. A razão disso reside no fato de que, quanto mais alto for o crescimento da economia, maiores serão as pressões sobre os gastos em moeda externa e sobre o financiamento externo. Essas pressões acabam por desencadear a fuga de capital, crises de balanço de pagamento, desvalorização cambial, inflação, crises fiscais, novo endividamento externo e recessão. A partir desse ponto, as exportações são estimuladas e as importações restringidas, aliviando o balanço de pagamento. Reposto o crescimento, se este subir muito, a crise será, subsequentemente, reposta.
Mas as crises não decorrem somente desse movimento. Diante da grande vulnerabilidade externa da maioria dos países da região, quaisquer manifestações de maior instabilidade nas finanças internacionais os atingem seriamente, precipitando uma crise. Dessa forma, a crise se desencadeia por razões internas, externas ou por ambas. São exemplos as crises de 1994-95 (do México), a de 1997 (asiática), a de 1998 (russa), a de 1999 (a do Brasil), a de 2000 (da Argentina) ou a recessão de 2001 nos EUA.
Se chamarmos taxas anuais de crescimento iguais ou maiores do que 5% de “altas”, as entre 3% e 4,9% de “médias”, as entre 1% e 2,9% de “baixas” e as abaixo de 1% de “críticas”, o exame detalhado do período 1989-2003 nos mostra, para o conjunto da América Latina: dois anos de altas, cinco de médias, três de baixas e quatro de críticas. Essa distribuição da média é diferente em cada caso, revelando as especificidades de cada país. Por exemplo, enquanto a Argentina teve altas taxas em sete anos – muito mais um retorno do “fundo do poço” em que caiu no período anterior –, teve também seis anos críticos; o Brasil só teve alta em um, críticas em três e dez de crescimento modesto; o México teve quatro de altas, três de críticas e sete de modestas.
Enfim, o modelo permite crescimento (em alguns casos, a taxas altas) até que suas possibilidades aguentem, sejam as internas (inflação, crise fiscal, crise política) ou as externas (ataques de especulação, cortes de financiamento externo, queda de preços externos para certos produtos estratégicos, como o cobre no Chile ou o petróleo no México e Venezuela). A “saída”, em todos os casos, é sempre uma recessão ou desaceleração, agravando a questão social, o desemprego e o endividamento. Em seguida, vem uma “recuperação”, com aceleração seguida de novo desastre.
Desempenho da agropecuária
A agropecuária, entre 1980 e 1989, teve crescimento muito baixo (2,1% anual), em virtude dos graves problemas que afetavam o setor, como a queda drástica de preços de exportação, a crise mundial e o fraco desempenho da demanda interna. Nesse período, os piores desempenhos foram os da Argentina e do México, com taxas abaixo de 1%.
Entre 1989 e 2002, a agropecuária cresceu um pouco mais, à média anual de 2,4%, graças principalmente à expansão das exportações. Esse crescimento modesto – porém acima do industrial – fez com que sua participação no PIB, dos 7,5% em 1980, passasse a 7,8% na trajetória até 2002, contrariando sua acentuada tendência histórica de queda. Abaixo da média regional ficaram a Colômbia (média de 1,7%), afetada pelos problemas de sua “guerra interna” e do narcotráfico, e a Venezuela (média de 0,8%), que durante o período sofreu vários momentos de recessão e inflação, crises de petróleo, desemprego e forte corrosão salarial.
O setor foi beneficiado não só pela recuperação parcial (pós-1993) de alguns preços externos, mas também pela retirada de impostos sobre suas exportações; aumento da demanda interna de matérias-primas – ainda que a indústria tenha tido baixo crescimento – e da demanda interna de consumo. No período mais recente, deve-se adicionar o extraordinário aumento das exportações para a China, que proporcionou também a elevação dos preços externos. Contudo, as políticas de estabilização e de abertura causaram, até 1998, quedas reais nos preços internos, barateando o consumo interno e reduzindo a renda real do setor.
As políticas de cortes de financiamento e de subsídios, juros altos e câmbio valorizado foram obstáculos a um crescimento maior, notadamente para a agricultura mais moderna e competitiva. Contudo, a abertura comercial e o câmbio estimularam fortemente as importações de produtos agropecuários, processados ou não: os dados da FAO mostram que, entre 1987 e 1994, o valor das importações (com preços mais altos e maior volume) aumentou 137%. Entre 1987-90 e em 1994, as exportações desses produtos na Argentina, Brasil e México cresceram cerca de 40%, mas suas importações aumentaram, respectivamente, 368%, 163% e 106%, diminuindo o potencial que o setor sempre teve para financiar o déficit dos demais setores.
Essa política constrangeu, em todos os países, a produção de vários bens: trigo, algodão e laticínios foram os mais afetados, mas também milho, arroz, oleaginosas, açúcar, carne de boi e de porco sofreram quedas ou estagnações de produção. Esses efeitos variaram de país para país, conforme suas condições específicas. Entre 1980 e 1990, as exportações do setor cresceram 38%, mas, entre 1990 e 2002, o aumento foi de 65%, dadas as melhorias apontadas acima, reforçadas pela crise de 1999-2002 e sua forte desvalorização cambial.
No longo transcurso de 1980-2002, entretanto, o saldo da balança comercial do setor (produtos em estado bruto e processados), em US$ bilhões, passou de 17,4 em 1980, para 20,2 em 1990 e 23,9 em 2002. Este último aumento foi relativamente modesto, mas se deveu ao grande aumento verificado nas importações desses bens. Graças a elas, o déficit mexicano passou, em US$ bilhões, de 1,3 em 1980 a 3,7 em 2002; nesse ínterim, Argentina e Brasil duplicaram seus saldos positivos, e o Chile, graças à reconversão parcial de sua economia para primário-exportadora, passou de um déficit de 0,4 em 1980 a um superávit de 2,3 em 2002.
As políticas neoliberais também afetaram os setores exportadores: houve forte redução do cultivo de produtos menos competitivos; deslocalização espacial (de produção e de emprego, em busca de terras mais baratas ou produtivas); intensificação tecnológica de insumos e máquinas, gerando maior desemprego e disponibilização de terras por aumento de produtividade, causando grandes baixas no preço da terra. Embora sejam positivas as melhorias de eficiência e competitividade, elas também agudizaram os problemas do desemprego, das demandas de novas infraestruturas públicas para os novos espaços agrícolas, notadamente da balança comercial e, ainda, do meio ambiente.
As disponibilidades latino-americanas de nutrientes para humanos, se comparada com a média da Europa ocidental (3.500 calorias e 108 gramas de proteínas) ainda se situava, em 2002, respectivamente, 20% e 28% abaixo daquelas médias, tendo havido melhoras importantes entre 1980 e 2002. Contudo, houve sensíveis pioras para alguns países, e cabe citar especialmente a Venezuela, que ostentava médias mais altas do que as da região e que, em 2002, reduziu-as em 18% para calorias e em 11% para proteínas.

- Embarque de soja no Porto de Paranaguá, no Paraná, Brasil (Arquivo APPA)
Desempenho do setor industrial
O setor industrial total (mineração, construção e transformação), cuja taxa média anual de crescimento entre 1980 e 1989 fora de -0,2, manteve fraco desempenho entre 1989 e 2002, com taxa média de 1,7%, graças principalmente às taxas da mineração (4,1%), que cresceu nesse nível em quase todos os países. Já a da construção civil teve desempenho regional medíocre (média de 0,6%), em conformidade com a queda violenta do investimento público e dos programas habitacionais. A indústria de transformação, que na década de 1980 praticamente estancara (taxa média anual de 0,6%), cresceu à média de apenas 1,4%, seriamente afetada não só pelas várias crises do período, mas também pela avalanche de importações industriais. Entre os mais bem-sucedidos, o Chile e o México obtiveram taxas em torno de 3,6%; entre os mais prejudicados, com 0,8% o Brasil, com 0,6% a Colômbia, e em torno de 0,3% a Argentina e a Venezuela.
O acúmulo de fracos desempenhos desde 1980 fez com que a participação da indústria no PIB caísse de 37,7% naquele ano para 30,7% em 2002. Somente a indústria de transformação caiu de 28,8% para 18,1%, desnudando o caráter regressivo do modelo em voga. Tomando esses mesmos anos, os países mais afetados foram Argentina (29% para 15%), Brasil (31% para 19,9%), Uruguai (28,6% para 17%), Peru (29,3% para 14,4%), Colômbia (21,5% para 13,5%) e Equador (20% para 7%). Transformados em plataformas exportadoras para os EUA, o México – convertido numa “divisão de produção industrial da economia norte-americana” – e os países da América Central mantiveram ou aumentaram ligeiramente suas participações.
O drástico rebaixamento tarifário e a valorização cambial provocaram avalanche de importações de toda ordem: para a classe média e as elites, ávidas em restaurar um padrão de consumo contido nos anos 1980; para os empresários, que necessitavam fazer importações pontuais de equipamento (ou tecnologia) para sobreviver na “competição”; e para as ETs, que, ao reestruturarem suas fábricas – ou as que compravam – aumentavam suas importações de máquinas e insumos, desnacionalizando ainda mais a indústria. As importações totais (agrícolas e industriais) e as de bens intermediários, a preços correntes, aumentaram cerca de 207% entre 1989 e 2002, as de bens de capital em 244% e as de bens de consumo em 287%, sendo que as de veículos de passageiros cresceram 8,5 vezes. Com isso, caiu por terra o argumento de que as importações teriam o objetivo básico de modernizar a capacidade produtiva e aumentar a competitividade do país.
O avanço industrial até meados da década de 1980 proporcionou substancial mudança na pauta exportadora, com a participação dos manufaturados aumentando de 18% para 29%, entre 1980 e 1990, e para 56% em 2002. A de maior expressão se deu no México: passou de 12% para 43%, a partir de sua incorporação ao NAFTA e à grande expansão da indústria maquiladora de montagem, com importações de matérias-primas. No caso mexicano, cerca de 85% do valor reexportado corresponde aos componentes importados nos anos 1998-2002. Contudo, sem o México, as médias continentais seriam de 19%, 29% e apenas 32%, desnudando o atraso na industrialização causado pelo neoliberalismo . Na Argentina, entre 1980 e 1990, a exportação passou de 23% para 29%, atingindo 35% em 1997-98, mas regrediu para cerca de 30% em 1999-2002, graças à virulência da crise interna, que culminaria com a renúncia presidencial, em dezembro de 2001, e a subsequente desvalorização cambial (de pouco mais de 100%), e ao crescimento do comércio no Mercosul. No Brasil, no mesmo período, passou de 37% para 52%, oscilando em torno de 54% a partir de 1999 e, nesse caso, o baixo crescimento, a crise e a desvalorização, além do Mercosul, também foram os principais fatores. A balança comercial de produtos industriais alterou-se radicalmente. Entre 1990 e 1994, dos sete maiores países latino-americanos, apenas o Brasil e a Venezuela (deficitária até o início da crise de 1994) apresentavam saldo positivo, porém decrescente. A Colômbia com déficit de US$ 7 bilhões, em 1994; a Argentina, de US$ 10,1 bilhões e o México, de US$ 23,7 bilhões. O coeficiente de exportações industriais (exportações/valor da produção) para a América Latina passou de 8,6 em 1980 para 12,7 em 1990 e para 21,7 em 1993, enquanto o de importações, nos mesmos anos, caiu de 14,1 para 13,1, subindo rapidamente para 29,4, conforme os dados do PADI/CEPAL. Contudo, os dados para a América Latina estão defasados, pois no período 1994-99, enquanto o PIB latino-americano aumentou em 18%, as importações totais aumentaram 50%, tendo o Brasil sofrido um dos maiores aumentos (11% no PIB e 46% nas importações). Infelizmente, alguns dados aqui apontados não estão disponíveis. Os mais recentes são da década de 1990. Eles, porém, permitem as seguintes conclusões de longo prazo sobre as mudanças estruturais da indústria:
1) A expansão e diversificação da indústria química latino-americana se deu entre 1975 e início dos anos 1980. Esse fenômeno teve maior amplitude nos três maiores países e, no caso do Brasil, também contribuiu o programa de álcool carburante de cana-de-açúcar.
2) Com as políticas de abertura, nos anos 1990, houve fortes alterações ou desacelerações nos setores mais complexos (bens de capital e insumos eletrônicos), que deixaram de ser a vanguarda da industrialização dos países grandes e médios. Alguns acordos setoriais – notadamente no caso da indústria automobilística – puderam ainda evitar o pior em alguns setores.
3) O maior avanço na estrutura produtiva deu-se nos setores mais voltados para a exportação, como os da agroindústria, calçados, confecções, celulose, não ferrosos e material de transporte – este, nos casos do México e do Mercosul. O Chile parece ser o país onde ocorreu o maior avanço estrutural dos setores leves – notadamente alimentação e bebidas –, graças à opção “neoprimário-exportadora” de suas elites, a partir do golpe de 1973, com base no uso intenso de recursos naturais (frutas, bebidas, celulose, minérios, produtos de pesca, móveis de madeira etc.). Lá, o peso dessas indústrias passou de 16,8% do total da indústria de transformação em 1970 para 26,6 em 1980 e 29,6% em 1994, um caso talvez inusitado na história da industrialização.
4) Isso levou a estrutura produtiva a um patamar supostamente mais avançado, estimulado pelas exportações e pelo consumo das classes de altas rendas e não pela acumulação produtiva. As políticas de abertura estancaram ou reduziram a participação da produção de bens de capital e de aparelhos eletrônicos em quase todos os países.
Resumidamente, o avanço industrial de maior complexidade (química de base, petroquímica e bens de capital) é herança do período em que ainda se ousava fazer política econômica e industrial. O “avanço” atual é fruto do ajuste passivo, das decisões das ETs, das exportações e do delírio consumista.

- Trabalhadores em fábrica têxtil na República Dominicana (Wikimedia Commons)
Desempenho dos serviços
O setor terciário compreende dois segmentos: o de serviços básicos (água, eletricidade, gás, comunicações, transporte e armazenagem) e o de outros serviços (comércio, finanças, aluguéis, prestação de serviços, educação, saúde etc.). O primeiro, em 2002, representava cerca de 11% do PIB e o segundo, 53%. O terciário total, entre 1980 e 1989, cresceu à taxa média anual de 1,9% e, entre 1989 e 2002, à de 2,7%, no primeiro período só ficando abaixo da taxa de crescimento da agricultura e, no segundo, só abaixo da mineração, e em ambos, acima da taxa de crescimento do PIB.
A intensificação da informática e o maior volume de produção e de negócios – principalmente comércio e importações – estimularam o uso mais intenso dos serviços da infraestrutura, com o que os serviços básicos cresceram a 4,8% anuais. Os outros serviços tiveram baixa taxa média anual (2,2%), em parte devido à crescente terceirização de atividades antes computadas na agropecuária e na indústria – e agora terceirizadas –, ao aumento da precarização do trabalho e do desemprego, que estimulam a expansão dos serviços pessoais – notadamente o emprego doméstico –, do comércio ambulante etc.
Crise de emprego e desigualdade de rendas
O problema do emprego e a questão social foram muito agravados pelas políticas neoliberais. A taxa média anual de desemprego urbano aberto da América Latina passou, entre 1980 e 1990, de uma média simples de 6,2% a 5,9% e, entre 1990 e 2003, de uma média ponderada de 7,3% para 10,7%. Mas, para os jovens de15 a 24 anos, em 1999, ela se situava em torno de 20% e, para os 20% mais pobres da população, em 22,3%, agravando a questão da pobreza e da distribuição de renda.
Ainda em 2003, as taxas de desemprego da Argentina, Colômbia, Uruguai e Venezuela situavam-se em torno de incríveis 17%, acima das elevadas taxas do Paraguai (11,2%) e do Brasil (12,3%).
O Chile, dadas suas elevadas taxas de crescimento, conseguiu diminuir o desemprego de 9,2% para 6,2% em 1993. Mas, com a desaceleração que se seguiu, o desemprego voltou a crescer, oscilando em torno de 9% entre 1999 e 2003.
O subemprego, por tempo de trabalho ou renda, piorou em quase todos os países: seus indicadores (não ponderados) apontam para cerca de 10% em 1990 para 15% em 1996, na questão das horas trabalhadas, e se mantém alto na questão da renda (cerca de 20%). Indicadores da estabilidade e proteção ao trabalhador também pioraram. Por outro lado, a precarização do mercado de trabalho aumentou, com a taxa de informalidade passando de 40% em 1980 para 52% em 1990 e 56% em 1995, compensando parte das perdas de emprego do setor público e das grandes empresas. Até 2003, não apresentava melhorias significativas.
O salário mínimo real urbano nos principais países, em 1999, só havia superado os níveis de 1980 no Chile (40%), mas nos demais ficava em níveis muito inferiores, como no México (-73%) e no Peru (-71%).
Quanto aos salários médios reais, de difícil e complexa comparação diante das mudanças estruturais, em 2003, em alguns países, ainda se encontravam abaixo da realidade de 1980, como na Argentina (-28%), no Peru (-59%) e na Venezuela (-75%). O Chile, de novo, era a exceção, com níveis mais altos (54%) do que em 1980, acompanhado de perto pelo Brasil (21%).
O crescimento econômico entre 1989 e 2002, ainda que baixo, reduziu um pouco a pobreza, a qual, contudo, era ainda maior do que a observada em 1980: neste ano, encontravam-se abaixo da linha de pobreza 40,5% da população, cifra que subiu para 48,3% em 1990, caiu para 42,5% em 2000 e voltou a subir para 44,0% em 2002. A regressão, contudo, foi pior na área urbana (29,8% em 1980, 41,4% em 1990, 35,9% em 2000 e 38,4% em 2002). A população abaixo da linha de indigência, que, em 1980, era de 18,6%, passou, em 1990, a 22,5%, caindo para 18,1%, e ficando em 19,4% em 2002. Nesse caso, a regressividade também foi maior na área urbana. Em termos absolutos, a população que atingia a linha de pobreza passou (em milhões) de 136 em 1980 a 200 em 1990 e 221 em 2002; as respectivas cifras referentes à condição de indigência foram 62, 93 e 97.
Vários países tiveram acentuadas quedas nas porcentagens de pobres e indigentes, principalmente no Chile e, pela ordem, também no Brasil, Colômbia, México e Uruguai. Mas os números relativos, em muitos casos, escondem a crueldade dos absolutos: no caso do Brasil, por exemplo, a melhoria relativa não mostra que os números de pessoas pobres e indigentes eram (em milhões), respectivamente, 46 e 20 em 1980, mas subiram para 70 e 34 em 1990, caindo um pouco em 2001, para 64 e 22. Na Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru e Venezuela, aumentaram as porcentagens de pobres e indigentes entre 1990 e 2002.
Embora tenha ocorrido maior crescimento do PIB, recuperações ou ganhos parciais de salários e alguns efeitos (apenas imediatos) positivos de algumas das políticas de estabilização, a participação dos 40% mais pobres na renda, entre 1990 e 1999, piorou na Bolívia, no Equador, no México, no Paraguai e na Venezuela. Houve melhoras pequenas, e de caráter circunstancial, na Argentina, no Brasil, no Chile e na Colômbia. A participação dos 10% mais ricos na renda nacional aumentou sensivelmente na Argentina, no Brasil, no Equador, no Paraguai e na Venezuela, e a relação entre as rendas médias desse estrato e a dos 40% mais pobres só diminuiu um pouco na Colômbia (26,8 para 22,3) e no Uruguai (9,4 para 8,8). Enquanto este último apresentava a relação mais baixa, o Brasil encontrava-se no topo (31,2 para 32).
O quadro do emprego e da renda das famílias, quando justaposto à piora dos serviços públicos sociais – saúde e educação, principalmente –, é a contraface da profunda deterioração social em que hoje vivemos. É a mola propulsora da violência, do tráfico, da prostituição e da corrupção que atinge atualmente quase todo o espaço urbano e grande parte do espaço rural da América Latina. A diferença nos níveis do crime, da contravenção, da insegurança e da injustiça, entre os diferentes países, é apenas de grau.
Questões para um prognóstico
Não se pretende aqui tirar conclusões “definitivas” sobre os rumos da América Latina, mas apenas assinalar as questões mais importantes para o conjunto do continente:
1) A sustentabilidade de um alto e persistente crescimento é improvável com o atual modelo, dado que seu principal elemento é o fluxo de capital externo, que teria que ser permanente e crescente. Isso se deve à elevada vulnerabilidade externa, à desregulamentação e à liberalidade para as relações econômicas internacionais. As lições da década de 1920 e as recentes crises de 1994-95, 1997, 1998-99 e 2000-02 ilustram essa análise. As taxas anuais do PIB dos principais países, entre 1989 e 2003, confirmam a debilidade e a descontinuidade do crescimento: na Argentina elas foram altas em 1991-94 e 1997, médias e modestas em 1996 e 1998 e fortemente negativas em 1995 e 1998-2002. As altas acumuladas em 2003 e 2004 somam 16,3%, insuficientes para compensar a queda acumulada em 1998-2002, de 19,5%; no Brasil, altas em 1993-95, modestas em 1997 e 2000, negativas em 1990 e 1992 e muito baixas nos outros sete anos; no México foram altas em 1990-91, 1994, 1996-98 e 2000, modestas em 1992 e 1999 e muito baixas ou negativas em outros quatro anos; no Peru, altas em seis anos, modesta em um e muito baixas ou negativas em 1991-92, 1996 e 1998-2001; na Venezuela, altas em 1990-92, 1995 e 1997, médias em dois anos e muito baixas ou negativas nos outros sete anos; na Colômbia, altas em 1990 e 1993-95, modestas em dois anos e muito baixas ou negativas em 1991, 1996-2002. O Chile teve melhor desempenho com altas em 1991-97 e 2000, modestas em quatro anos e muito baixas ou negativas em dois anos.
2) Durante as crises, a fuga de capitais costuma agravar o quadro, amenizado em seguida por financiamentos compensatórios do Fundo Monetário Internacional (FMI), que aumentam o endividamento do país. A recessão e a desvalorização cambial restringem as importações e expandem as exportações e a inflação. As altas taxas de juros podem reprimi-la, mas restringem também os investimentos produtivos.
3) Passados os períodos recessivos, os capitais e alguns investimentos costumam voltar e as exportações crescentes geram a retomada do crescimento. Mas, quanto mais alto o crescimento, maior o aumento das importações e demais gastos externos, repondo o déficit de transações correntes e inviabilizando, a médio prazo, a continuidade da expansão. Contudo, os economistas oficiais teimam em não ver essa consequência.
4) No passado recente, os economistas usaram, nas políticas de estabilização, processos que, na maioria das vezes, significavam “esconder a inflação debaixo do tapete”, através de indexações reduzidas, congelamentos de preços e drásticos cortes creditícios. Hoje, utilizam a valorização cambial, elevando os juros, agravando os custos financeiros e inibindo os investimentos produtivos. Isso altera violentamente a estrutura de preços relativos e fortalece a fogueira da especulação. A menos que a memória inflacionária tenha um curso de tempo suficiente para destruí-la, não há outra saída senão a destruição parcial da riqueza privada acumulada nesse processo. Caso contrário, a inflação reprimida “sairá do tapete”. Contudo, a qualquer crise cambial de maior vulto, a desvalorização se torna crucial, repondo novamente o processo inflacionário, ainda que nos dias atuais em patamares mais baixos.
5) Alguns economistas – até mesmo da esquerda – julgam que o problema da dívida externa está equacionado, dadas as recentes renegociações e as enormes entradas de capital. Contudo, ela passou de US$ 180 bilhões, em 1979, a 440 em 1989 e a 743 em 2003, e grande parte do aumento se deu no setor privado. Isso aumenta ainda mais a instabilidade e o risco, pois diante de novas desvalorizações, que mais cedo ou mais tarde virão, muitas empresas e instituições financeiras quebrarão.
6) Há que ressalvar também a entrada de investimentos diretos – que nestes anos deslocou-se da produção física para o ganho fácil das privatizações – para os oportunos negócios de compras de empresas nacionais e para os ramos de serviços, em que se destaca a crescente internacionalização dos sistemas financeiros e de telecomunicações nacionais. Alocados em setores não comercializáveis, geram ainda crescente fluxo de remessa de lucros.
7) A privatização de ativos públicos e a concessão de serviços públicos foi parte integrante do receituário neoliberal, com argumentos parcialmente válidos, como a questão fiscal e a da eficiência produtiva. Entre 1990 e 2001, as empresas privatizadas responderam por cerca de 1,4% do PIB acumulado no período, mas seu efeito “curativo” é parcial e passageiro, dado que os déficits retornam por outras razões. O argumento fiscal não se sustenta, principalmente no caso das estatais que, embora altamente lucrativas, também foram privatizadas. Um dos absurdos das novas teorias tem sido identificar o financiamento de estatais lucrativas como aumento do déficit. O argumento da eficiência – como se isso fosse aferido apenas pela taxa de lucro – oculta o caráter público dessas empresas e seu papel na política de estabilização, mediante a contenção de seus preços.
8) Consumo e investimento são os principais indicadores da economia, sendo o investimento interno bruto fixo seu principal determinante de crescimento. Mas, como se viu, o consumo cresceu nos anos 1990 tanto quanto ou mais do que o investimento, pois este estava inibido pelos escorchantes juros, pela incerteza e instabilidade. Para que haja crescimento sustentado, o consumo teria de voltar com mais força, com o barateamento das importações e a abundância do crédito externo, mas, o crescimento do PIB, majoritariamente determinado pelo consumo, teria vida curta.
9) O grande aumento de importações, tanto de bens de consumo como de insumos, até 1998, estava desestruturando os parques produtivos latino-americanos (principalmente os industriais) e comprometendo seriamente a geração de valor agregado e de empregos. A reversibilidade da desestruturação, porém, é problemática, e pode atrapalhar a retomada de crescimento.
10) Os defensores do modelo apregoam a melhora da distribuição de renda na fração mais pobre da população. Contudo, essa melhora decorre da estabilização dos preços, é do tipo once for all, e não de natureza corretiva estrutural. Além disso, o modelo, ao desregulamentar e liberalizar o capital, beneficiou especuladores e ampliou ainda mais a classe dos rentiers.
11) A continuidade das reformas em marcha, por outro lado, conduzirá os Estados nacionais a um grau ainda menor de intervenção na economia, paradoxalmente, quando ela se torna mais necessária para a reconversão da política econômica. Esta, contudo, certamente exigirá um difícil e complexo arranjo político interno e externo, com necessário turnover nos segmentos dirigentes da economia, da política e do Estado.
12) Por último, como o novo modelo é altamente sensível às flutuações internacionais, seu futuro depende da evolução da conjuntura internacional, e qualquer reversão desta encontrará o Estado desaparelhado para oferecer uma resposta imediata. A conjuntura de 2003-05 é das mais favoráveis, diante do exuberante papel da China, da retomada da economia dos EUA e da manutenção dos preços das commodities em níveis altos. Porém, a incerteza sobre o dólar, o provável desaquecimento da China e a provável elevação internacional dos juros certamente trarão novos impactos negativos para a região.
As diferentes estratégias dos países
Um exame sumário das estratégias econômicas dos principais países da região sugere que eles poderão ter histórias diferentes:
1) O Chile, talvez o mais diferente, optou por crescer com base em seus recursos naturais, com discutível e difícil perspectiva futura, diante do problema do esgotamento de recursos e da competição de outros países. Em sua pauta exportadora, os produtos primários ainda somam 83% – com o cobre e seus produtos liderando com quase 40% –, sendo os outros pesca, fruticultura e madeira. Parte do sucesso exportador deve-se a fatores climáticos: suas colheitas ocorrem nos períodos de entressafra do hemisfério Norte. Sua liderança em termos de taxas de crescimento e de estabilidade em vários planos econômicos e políticos não impediu as desvalorizações, as altas de preços e os aumentos nas dívidas (pública e privada) externas e internas. Seu crescimento médio – mais alto do que o restante da região, embora também tenha se desacelerado após 1997 – possibilitou a geração de uma renda per capita , em 2003, 79% maior do que a de 1980.
2) O México desenvolveu sua indústria, porém a está convertendo (já em fase avançada) em complemento da indústria norte-americana, atrelando-se, assim, à dinâmica e às determinações daquela economia. Apesar do sucesso da expansão de suas exportações após a crise de 1995, não escapou da dinâmica perversa do modelo, voltando a ter enormes déficits em conta corrente e continuando a sofrer as agruras da crise internacional. Agora, enfrenta a concorrência da China que, em 2003, superou as exportações mexicanas – e também as centro-americanas de confecções – para os EUA. Em que pese a alta performance exportadora, sua renda per capita, em 2003, era apenas 11% maior do que a de 1980.
3) A Argentina amarrou-se institucionalmente ao congelamento cambial e procurou inutilmente, até 1999-2001, um remédio miraculoso para salvar sua mistificada dolarização ou preservá-la dos efeitos da desvalorização cambial do Brasil. Todo o rigor ortodoxo foi inútil: os pesados déficits de transações correntes consumiram as reservas e assustaram o capital, corroendo ainda mais as finanças públicas. A dívida pública, que em 1991-92 estava próxima de 25% do PIB, em 2000 chegou a 46%, explodindo para 138% em 2003. A forte determinação política do governo em negociar duro e a insolvência a que chegou o país explicam o sucesso de sua proposta (2005) de renegociação das dívidas externa e interna, com o fantástico deságio de 30% e 66%, com alongamento de prazos de 30 a 42 anos, e juros que variam em função dos prazos e dos deságios. Resta saber se essas atitudes são apenas circunstanciais ou se, daqui em diante, o país realmente procurará resgatar o tempo perdido. Sua renda per capita em 2003 equivalia a apenas 88% da de 1980.
4) O Brasil, por sua vez, seguiu os passos mexicanos e argentinos rumo ao desastre cambial, cujo paliativo é a desvalorização abrupta, seguida de recessão, renegociação da dívida e novos empréstimos, resultando em quebras financeiras, novo aumento das dívidas externa e pública interna, e agravamento do quadro político e social. Em 1998, para se reeleger, o governo de Fernando Henrique Cardoso obteve, junto ao FMI empréstimo de US$ 41 bilhões, com o que postergou o estouro cambial para 1999. Em meados de 2002, para conter o temor do mercado pela quase certa eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, assinou mais um acordo com o FMI, de US$ 24 bilhões. O novo governo assumiu comprometido com o cumprimento dos contratos, de modo que a política econômica não saiu da linha ortodoxa, em que pese ser um “governo de esquerda”. Assim, ocorreu nova recessão em 2003, com desvalorização, inflação, juros escorchantes, enfim um rol de consequências bem conhecido. Foram 25 anos de sacrifícios para que, em 2003, a renda per capita do país fosse 2% inferior à de 1980.
5) A estratégia da Colômbia tinha uma estrutura da dívida (médio para longo prazo), uma baixa inflação e estabilidade maior de seu crescimento, o que sugeria que sua política econômica e suas reformas pudessem trilhar caminhos diferentes. Ela, contudo, também enveredou pelo neoliberalismo, com o que sua situação social ficou ainda mais problemática. As pressões dos EUA (Plano Colômbia) quanto ao combate ao narcotráfico , as seis décadas de guerrilha e as estruturas paramilitares contribuíram para agravar sua situação. Apesar de tudo, sua renda per capita em 2003 superava em 27% a de 1980.
6) A Venezuela, dada sua pequena base produtiva agrícola e industrial, já havia optado, desde a década de 1930, pelo petróleo. Porém, os recursos naturais não bastam para ascender ao primeiro mundo. Pior ainda, nesse país, o peso econômico do petróleo é muito alto: 70% a 80% da pauta exportadora e da carga fiscal e 20% do PIB, mas, em contrapartida, ocupa apenas 2% da População Economicamente Ativa (PEA). Produto primário suscetível a grandes flutuações, o petróleo pode ser o oásis ou o inferno da economia: quando sobem seus preços (ou a quantidade exportada), cresce a receita fiscal, o gasto público e o investimento, embora isso possa trazer violenta valorização de câmbio; na queda, a receita cambial e a fiscal encolhem, mas o desejo (e a necessidade) de importar se mantém, e o gasto público tenta resistir aos cortes, aí sobrevêm as inevitáveis inflação e recessão. Esse é o paradoxo do petróleo. A surpreendente vitória de Hugo Chávez, nas eleições e no referendo, e suas reformas institucionais progressistas trouxeram novo alento e esperança ao povo desse país, mas, ao atingir frontalmente os interesses da elite e do capital internacional, suscitaram tentativas de golpe – notadamente em 2002 e 2003, com a paralisação da atividade petrolífera – que resultaram numa queda acumulada do PIB de 17,5%. Isso, somado ao baixo crescimento de longo prazo, fez com que a renda per capita de 2003 registrasse uma espantosa redução de 31% em relação à de 1980.
7) No período 1980-2002, cerca de 83% das exportações do Peru eram de produtos primários. Além da estabilidade da moeda, as maiores cifras conquistadas até fins da década de 1990, com a abertura de Alberto Fujimori, foram uma taxa de 76% de subemprego na região metropolitana de Lima e queda de 60% no salário real, em relação a 1980. A profunda deterioração do país levou a uma desmoralizante renúncia seguida de fuga para o Japão do presidente Alberto Fujimori no ano 2000, em grande parte por pressões dos EUA. Essa trágica trajetória fez com que a renda per capita de 2003 fosse 15% menor do que a de 1980.
Qual o futuro desses países? Ele é incerto, mas seguramente depende da restauração da soberania nacional. A crise social atingia em 2006 níveis inusitados. A classe média alta e as elites gozaram das delícias das importações e das viagens internacionais baratas, mas eram incapazes de entender que o corolário do desemprego é o aumento da contravenção e do crime. Os conservadores apelavam para paliativos antigos e novos, como a construção de mais cadeias, reequipamento das polícias ou agravamento das penas.
As recentes vitórias da oposição progressista em vários países sul-americanos trouxe mais esperança, mas ao mesmo tempo muitos desapontamentos. Chávez tentava implementar na Venezuela seu programa nacionalista e de justiça social, mas se defrontava com forte oposição – golpista, inclusive – das elites e dos EUA. Néstor Kirchner, diante do caos financeiro da Argentina, teve a coragem de enfrentar os credores externos (e os internos). Lula, no Brasil, se elegeu com um programa de esquerda, mas seguia uma política contraditória: internamente mantinha a ortodoxia neoliberal e externamente tentava implementar uma política independente, enfrentando os interesses dos EUA. Apesar de sua história e militância política de esquerda, o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez , eleito em 2004, emitia sinais de que sua política econômica seguiria o figurino neoliberal.
No México, as pesquisas sobre as eleições de 2006 sinalizavam a vitória do candidato da oposição (PRD), mas o que poderia fazer um governo progressista diante da verdadeira “soldagem” da economia do país à dos EUA? No passado recente, assistimos também a outras lideranças progressistas sul-americanas se comportarem de forma ambígua: conservadores na economia, apoiando o neoliberalismo, e heterodoxos na política, pelo menos quanto a temas que não contrariassem direta e abertamente o sistema financeiro internacional, como combate à fome e defesa dos direitos civis e do meio ambiente, que jamais fizeram parte da agenda de qualquer Banco Central.
Indicadores econômicos da América Latina
|
1980 |
1990 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2010* |
|
|
PIB (em milhões de US$ a preços constantes de 1995) |
… |
1.478.524,4 |
2.006.004,9 |
2.013.488,6 |
2.001.934,0 |
2.041.161,2 |
… |
… |
… |
|
PIB per capita (em US$ a preços constantes de 1995) |
… |
3.375,3 |
3.874,3 |
3.829,9 |
3.751,2 |
3.771,8 |
… |
… |
… |
|
Exportações anuais |
91.590,8 |
136.997,0 |
358.948,0 |
343.024,0 |
346.627,0 |
378.206,0a |
464.362,0a |
… |
… |
|
• Exportação de manufaturados |
16.394,7 |
45.346,0 |
209.266,7 |
209.266,7 |
203.816,7 |
210.660,7 |
… |
… |
… |
|
• Exportação de produtos manufaturados (%) |
17,90 |
33,10 |
58,20 |
59,10 |
58,80 |
55,70 |
… |
… |
… |
|
• Exportação de |
75.196,1 |
91.651,0 |
149.681,3 |
133.757,3 |
142.810,3 |
167.545,3 |
… |
… |
… |
|
• Exportação de |
82,10 |
66,90 |
41,80 |
40,90 |
41,20 |
44,30 |
… |
… |
… |
|
Importações anuais |
92.461,5 |
105.259,0 |
355.596,0 |
346.947,0 |
322.831,0 |
333.513,0a |
406.002,0a |
… |
… |
|
Exportações – importações (em milhões de US$) |
-870,7 |
31.738,0 |
3.352,0 |
-3.923,0 |
23.796,0 |
44.693,0 |
58.360,0 |
… |
… |
|
Investimentos estrangeiros diretos líquidos |
5.744,4 |
6.722,5 |
67.458,6 |
66.258,7 |
40.340,6 |
29.443,2 |
… |
… |
… |
|
População Economicamente Ativa (PEA) (mil)b |
126.160,0 |
167.484,5 |
217.241,3 |
… |
… |
… |
… |
243.511,8 |
269.416,7 |
|
• PEA do sexo masculino (%) |
71,59 |
68,35 |
65,33 |
… |
… |
… |
… |
63,98 |
62,74 |
|
• PEA do sexo feminino (%) |
28,41 |
31,65 |
34,67 |
… |
… |
… |
… |
36,02 |
37,26 |
|
Taxa anual de desemprego urbano (%)c** |
6,20 |
7,30 |
10,20 |
9,90 |
10,80 |
10,70 |
10,0* |
… |
… |
|
Total de gastos públicos (milhões de dólares) |
… |
135.756,7 |
275.862,3 |
268.101,9 |
160.788,4 |
168.004,6 |
… |
… |
|
|
Dívida externa bruta desembolsada |
222.712,0 |
468.332,0 |
745.188,0 |
728.956,0 |
727.346,0 |
757.997,0* |
… |
… |
… |
Fontes: CEPAL. Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2001 e 2004.
a CEPAL. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2005. | b OIT. Organização Internacional do Trabalho, 2006. | c CEPAL/BADEINSO.
* Projeções. | ** Inclui um ajuste dos dados do Brasil e da Argentina, para equacionar as mudanças metodológicas dos anos 2002 e 2003, respectivamente.
Obs.: Informações sobre fontes primárias e metodologia de apuração (incluindo eventuais mudanças) são encontradas na base de dados ou no documento indicados.
Taxa de desemprego urbano aberto (%)
|
1980 |
1985 |
1990 |
1995 |
2000 |
2003 |
|
|
América Latina |
6,2* |
n.a. |
7,3 |
8,7 |
10,2 |
10,7 |
|
Argentina |
2,6 |
6,1 |
7,4 |
17,5 |
15,1 |
17,3 |
|
Brasil |
6,3 |
5,3 |
4,3 |
4,6 |
7,1 |
12,3 |
|
Chile |
11,7 |
17,2 |
7,8 |
7,4 |
9,2 |
8,5 |
|
Colômbia |
10,0 |
13,9 |
10,5 |
8,8 |
17,2 |
16,7 |
|
Paraguai |
4,1 |
5,2 |
6,6 |
5,3 |
10,0 |
11,2 |
|
Uruguai |
7,4 |
13,1 |
8,5 |
10,8 |
13,6 |
16,9 |
|
Venezuela |
6,6 |
14,3 |
10,4 |
10,3 |
13,9 |
18,0 |
Fonte: CEPAL; n.a.: não avaliado.
* Média simples.
Salário mínimo real urbano
(1980 = 100)
|
1985 |
1990 |
1995 |
1999 |
|
|
Argentina |
113,1 |
40,2 |
75,6 |
75,0 |
|
Brasil |
88,9 |
53,4 |
82,3 |
93,0 |
|
Chile |
76,4 |
87,5 |
113,6 |
40,0 |
|
México |
71,1 |
45,5 |
30,4 |
27,0 |
|
Peru |
54,4 |
23,4 |
14,8 |
29,0 |
|
Venezuela |
96,8 |
59,3 |
54,2 |
45,0 |
Salários médios reais
(1980 = 100)
|
1985 |
1990 |
1995 |
2000 |
2003 |
|
|
Argentina |
107,8 |
78,7 |
80,1 |
85,1 |
71,6 |
|
Brasil* |
120,4 |
142,1 |
136,0 |
142,5 |
121,0 |
|
Chile |
93,5 |
104,8 |
129,5 |
147,2 |
154,0 |
|
México |
75,9 |
77,9 |
88,4 |
87,6 |
96,5 |
|
Peru |
77,6 |
36,5 |
42,6 |
38,9 |
41,0 |
|
Venezuela |
84,2 |
46,2 |
33,5 |
32,9 |
25,3 |
Fonte: CEPAL.
* Emprego formal: até 1995, média da indústria do Estado de São Paulo.
Mapas




Bibliografia
- ABRAMO, L. Mercados laborales, encadenamientos productivos y políticas de empleo en América Latina. Santiago de Chile: ILPES, 1997.
- AZPIAZU, D. El programa de privatizaciones: desequilibrios macroeconómicos, insuficiencias regulatorias y concentración del poder económico. In MINSBURG, N.; VALLE, H. W. (Coord.). Argentina hoy: crisis del modelo. Buenos Aires: Letra Buena, 1995.
- BIELSCHOWSKY, R.; STUMPO, G. Transnational corporations and structural changes in industry in Argentina, Brasil, Chile and Mexico. CEPAL Review, n. 55. Santiago: CEPAL, 1995.
- BRAGA, J. C. S. Financeirização global: o padrão sistêmico do capitalismo contemporâneo. In: TAVARES, M. C.; FIORI, J. L. (Orgs.). Poder e dinheiro – uma economia política da globalização. Petrópolis: Vozes, 1997.
- CANO, W. Reflexões sobre o Brasil e a nova (des)ordem internacional. 4. ed. Campinas: Unicamp, 1995.
- __________. Notas sobre o imperialismo hoje. Crítica Marxista, v. 1, n. 3. São Paulo: Brasiliense, 1996.
- __________. Soberania e política econômica na América Latina. São Paulo/Campinas: Unesp/Unicamp – Instituto de Economia, 2000. (Traduzido para o espanhol com o mesmo título. Cartago, Costa Rica: LUR – Libro Universitário Regional, 2001.)
- __________. Furtado: a questão regional e a agricultura itinerante no Brasil. In CANO, W. Ensaios sobre a formação econô mica regional do Brasil. Campinas: Unicamp – Instituto de Economia-Fecamp, 2002.
- CÁRDENAS S., M. Empleo y distribución del ingreso en America Latina. Hemos avanzado? Bogotá: TM, 1997.
- CARMAGNANI, M. Estado y sociedad en América Latina: 1850-1930. Barcelona: Crítica, 1984.
- CEPAL. Panorama social. Santiago de Chile: CEPAL, vários anos.
- __________. Economic indicators. Santiago de Chile: CEPAL, 1997a.
- __________. Estudio económico de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL, vários anos.
- __________. Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL, 1997b.
- __________. Anuario estadístico de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL, vários anos.
- DURÁN JUAREZ, J. M. y otros (Coords.). La globalización en América Latina a la luz del nuevo milenio. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2003.
- FAO. El estado mundial de la agricultura y la alimentación. FAOESTATE, Roma: FAO, vários anos.
- FRENCH-DAVIS, R. El efecto tequila, sus origenes y su alcance contagioso. Desarrollo Económico, n. 146, v. 37. Buenos Aires: IDES, jul.-dic.1997.
- FURTADO, C. Formação econômica da América Latina. Rio de Janeiro: LIA, 1969
- __________. Análise do modelo brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972.
- __________. Teoria e política do desenvolvimento econômico. 10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000
- GÓMEZ-OLIVER, L. Efectos de la apertura externa y la liberalización financiera sobre el sector agropecuario en América Latina y el Caribe. Cuadernos de la CEPAL, n. 81. Santiago de Chile: CEPAL, 1997.
- HALPERIN DONGUI, T. Historia contempor ánea de América Latina. Buenos Aires: Alianza, 1986.
- HELD, G.; SZALACHMAN, R. Flujos de capital externo en América Latina y el Caribe: experiencias políticas en los noventa. Santiago de Chile: CEPAL, abr. 1997. (Serie Financiamiento del Desarrollo, n. 50).
- ILPES. Reforma y modernización del Estado. Santiago de Chile: ILPES, 1995.
- NACIONES UNIDAS. Estudio económico y social mundial. Nova York: ONU, vários anos.
- TAVARES , M. C. Acordo de investimentos, privatização e cidadania. Folha de S.Paulo: 1-3-1998, p. 6/2.
- __________; FIORI, J. L. Desajuste global e modernizaçã o conservadora. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.
- UTHOFF, A. Reformas a los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL, 1995. (Serie Financiamento del Desarrollo, n. 29.)
- __________; FRENCH-DAVIS, R.; TITELMAN, D. Entorno macroeconómico para el desarrollo productivo en el contexto de entrada de capitales externos. Cuadernos de la CEPAL, n. 81. Santiago de Chile: CEPAL, 1997.